É 26 de dezembro de 1929, um dia depois do Natal. Por volta das duas da tarde, a jornalista Sylvia Serafim entra de supetão na sede do jornal “A Crítica”. Tem em mãos um revólver comprado no mesmo dia. Quer ver a todo custo o editor-chefe, responsável pela polêmica primeira página do dia anterior que a acusou de adultério — embora, na verdade, fosse desquitada quando começou o novo relacionamento, um escândalo para a época. Ele não está, e quem acaba recebendo o tiro é seu filho, o ilustrador Roberto Rodrigues, de 23 anos.
A bala atravessa o ventre e fixa-se na espinha. A vítima é levada ao pronto-socorro e passa por cirurgia durante a noite, mas acaba vindo a óbito três dias depois. Mário Rodrigues, a quem a bala se destinava, morre três meses após o filho, acometido por uma trombose cerebral. Sylvia vai a júri — é o primeiro julgamento transmitido ao vivo pelo rádio — e acaba sendo absolvida por cinco a dois, com base no fundamento de “legítima defesa da honra” (uma excludente de ilicitude, à época).
Nelson, que também estava no jornal, assistiu de perto o assassinato do irmão. O acontecimento muda para sempre a vida do ficcionista, assentando o teor da sua futura obra literária e teatral. Em entrevista de 1979 concedida ao repórter da “Folha de S. Paulo” Lourenço Diaféria, o autor de “Vestido de Noiva” declarou: “Todos os meus textos dramáticos são uma meditação sobre o amor e sobre a morte. O meu teatro não seria o que é, nem eu seria como sou, se eu não tivesse sofrido na carne e na alma, se eu não tivesse chorado até a última lágrima de paixão o assassinato de Roberto”.
Durante sua infância, já era possível notar a aptidão para a literatura, bem como a obsessão por temas “delicados”, como o sexo e a morte. Reza a lenda que durante um concurso literário promovido na escola pública Prudente de Morais, cujo primeiro prêmio seria a leitura do texto em voz alta, Nelson — então uma criança de 8 anos —, apresentou nada menos que uma história de adultério, na qual a mulher adúltera acaba assassinada pelo marido que se arrepende logo em seguida (um crime passional, vejam só). A professora, apesar de espantada, premiou a redação e, como não podia ler aquilo em voz alta, inventou um empate, lendo a redação de outro aluno.
Dessa forma, o assassinato de Roberto e a experiência adquirida como repórter policial — profissão que Nelson entrou com apenas 13 anos de idade —, acabou se mostrando a mistura perfeita para que o dramaturgo, interessado desde o berço pelos crimes passionais, conseguisse desvelar as contingências da alma humana com uma profundidade comparável, sem exageros, a de um Dostoiévski.
Assim, o anjo pornográfico — como ele mesmo se apelidou, e é o nome que serve de título da clássica biografia de Ruy Castro — nos deixou uma obra que confere fumos de tragédia grega à vida secreta das famílias cariocas, repleta de mentiras, ciúmes, adultérios e, por vezes, assassinatos e suicídios. É uma salutar lembrança de que a “família tradicional” constitui uma estrutura que pode gerar níveis insuportáveis de sofrimento.
A obra rodrigueana é extensa. Há dezenas de enredos e personagens inesquecíveis. O juiz Odorico perdidamente apaixonado pela bela Engraçadinha; o pobre coitado do Arandir; Palhares, o canalha; o jornalista inescrupuloso Amado Ribeiro; o megalômano Boca de Ouro; o ciumento Olegário; a Madame Clessi; Doroteia; além de a miríade de personagens de “A Vida Como Ela É”, só para citar alguns. Quanto aos enredos, Nelson Rodrigues escreveu uma boa quantidade de peças, contos, crônicas e romances de folhetim que, em geral, retratam tragédias resultantes de impulsos incontroláveis, de modo que praticamente qualquer uma delas é capaz de trazer reflexões interessantes sobre o crime passional. No entanto, por sua sutileza com que trata o tema, uma obra se destaca: “O Beijo no Asfalto”.
Publicada em 1960 e encenada pela primeira vez em 1961, sob a direção de Gianni Ratto, a tragédia carioca em três atos e treze quadros — como definida pelo dramaturgo —, gira em torno de um ato de misericórdia. Um homem é atropelado por um ônibus e Arandir tem o azar de ser o primeiro a chegar no local. Aproximando-se do moribundo, este lhe faz um último pedido. Um beijo. Sem erotismo, sem romance, ele quer sentir pela última vez o calor de um lábio humano. Como negar o pedido de um moribundo anônimo? Arandir se abaixa e beija os lábios do quase defunto. A cena toda foi presenciada por um jornalista oportunista chamado Amado Ribeiro e, a partir daí, a vida de Arandir se transforma num verdadeiro inferno. O jornalista se associa a um delegado corrupto que busca reabilitar a própria imagem perante a opinião pública. Juntos, os dois algozes inventam que Arandir tinha um caso com o morto e que, por ciúmes, empurrou-o para ser atropelado. Após a publicação da farsa no jornal, a reputação de Arandir é imediatamente destruída. Seus colegas de trabalho ficam contra ele. Sua esposa, Selminha — interpretada por Fernanda Montenegro na primeira encenação —, inicialmente o apoia, mas acaba sendo manipulada por Amado Ribeiro e passa a acreditar na história. Ao final, a cunhada de Arandir (Dália) subitamente declara seu amor por ele e, ato contínuo, Aprígio — o sogro de Arandir, um dos personagens mais homofóbicos da peça, que ficou contra ele desde o início —, revela que sempre o amou, mas que não pode perdoar o seu beijo em outro homem, não pode perdoar o beijo no asfalto. Num último ato absolutamente apoteótico, Aprígio ceifa a vida de Arandir com dois disparos de revólver.
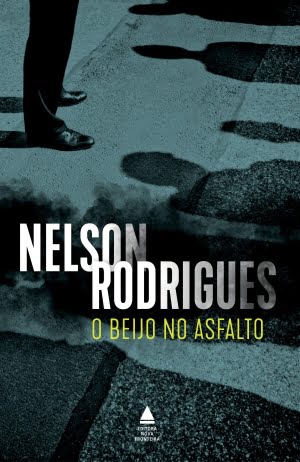
A peça é assustadoramente atual. Há fake news, destruição de reputação pela mídia, uso da máquina pública para fins escusos, violência policial e homofobia. Arandir é injustamente acusado de cometer um crime passional e, por ironia do destino, acaba ele mesmo sendo a vítima de um crime passional. Nelson Rodrigues nos mostra que esse tipo de crime, em português claro, vende jornal. Há uma atração irresistível nessas histórias violentas, talvez porque elas signifiquem um retorno à nossa condição natural. Em “Sobre o Mal” (2022, p. 39), o professor de literatura inglesa Terry Eagleton explica que “o egoísmo é uma condição natural, ao passo que a bondade envolve um conjunto de habilidades complexas que temos de aprender”. Nesse sentido, o crime passional reúne um conjunto de circunstâncias apto a despertar o pior que há dentro de nós, fazendo cair por terra códigos sociais e barreiras morais, geralmente tão eficientes em coibir comportamentos extremos e violentos.
O trágico fim de “Um Beijo no Asfalto” deixa uma pergunta no ar: Aprígio — o assassino de Arandir que supostamente o amava — seria absolvido em um júri popular?
É difícil dizer. No Brasil de hoje, felizmente, a hipótese de “legítima defesa da honra” — que serviu, durante muito tempo, para absolver acusados de homicídio em razão de ciúmes, vingança etc. — caiu por terra. No recente julgamento da ADPF n. 779/DF, sob a relatoria do Min. Dias Toffoli, o STF formou maioria para considerar inconstitucional a tese de legítima defesa da honra, por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero, tendo sido deferida liminar para obstar o seu uso perante o Tribunal do Júri. Porém, subsiste a hipótese de absolvição por clemência. Nesse sentido, o jurista Cléber Masson bem nos recorda: “Nada obstante, vez ou outra se constata a absolvição de homicidas passionais confessos. Isso se dá, notadamente, pela circunstância de serem julgados pelo Tribunal do Júri, composto por juízes leigos e que decidem pela íntima convicção, sem fundamentação dos seus votos, muitas vezes movidos pela piedade, pela farsa proporcionada pelo acusado ou mesmo por se identificarem com a figura do réu”.
Dessa forma, o debate em torno do julgamento de crimes passionais é complexo e multifacetado. Há quem enxergue nas absolvições perpetradas pelo júri popular uma afronta à dignidade humana e à segurança jurídica. Do outro lado, há quem diga que são legítimas, pois resultam de uma instituição soberana acima do âmbito de influência de qualquer outro poder. Seja como for, qualquer discussão séria acerca dos crimes passionais ganha em profundidade ao partir de exemplos extraídos da literatura universal, notadamente, da obra de Nelson Rodrigues.
Há alguns casos em Literatura (essa mesma com “L” maiúsculo) de escritores que atingiram uma unidade perfeita entre a vida e a obra, de modo que a arte imita a vida e a vida imita a arte, numa relação dialética devastadora. Nelson Rodrigues nos brinda com histórias trágicas, inspiradas na sua saúde instável — foi tuberculoso —, no cotidiano policial do Rio de Janeiro e nas suas catástrofes pessoais… E ao mesmo tempo, surpreendentemente esperançosas — em muitas delas (embora não seja o caso de “O Beijo no Asfalto”), o vilão é punido de alguma forma, o pecado não fica por isso mesmo —, é um reflexo do seu cristianismo peculiar que “só acredita em igrejas vazias”. Nelson é um anjo pornográfico e isso se reflete em cada linha da sua obra.
Em suas histórias, não raro, Direito e Literatura se entrecruzam, formando uma simbiose capaz de explicar (jamais, justificar) crimes que antes pareciam desprovidos de sentido. Nelson Rodrigues ainda precisa ser redescoberto pelos professores brasileiros de Direito Penal, que tradicionalmente mandam os alunos lerem “Crime e Castigo”, “O Processo” e, até mesmo, “1984”. “O Beijo no Asfalto” em nada perde para esses clássicos. E o melhor: fala da nossa realidade.





