Matosinhos, 8 de dezembro de 1930. O quarto é uma ilha fechada; o frasco vazio guarda um brilho opaco. Lá fora o Atlântico bate curto. No calendário, o círculo se dobra onde começou. Trinta e seis anos concentrados num dia, um fósforo que se apaga e deixa ar morno. Há papéis calados sobre a mesa, um murmúrio de tinta que ainda procura destinatário. A cidade não repara; a noite cobre as arestas e guarda o segredo. O nascimento encontra a despedida no mesmo ponto; no corpo da poeta, o silêncio responde, e fecha.
Florbela Espanca veio de Vila Viçosa, 1894, filha de um amor interdito e de um país hesitante. Cresceu sob a Primeira República, instaurada em 1910, que prometeu arejamento e multiplicou gabinetes efêmeros. Entre 1910 e 1926 sucederam-se governos que mal concluíam o mês, greves, pronunciamentos, quartéis impacientes. Em 28 de maio de 1926, o golpe militar encerrou a experiência parlamentar; dois anos depois, António de Oliveira Salazar assumiu as finanças e impôs disciplina orçamentária; em 1933, a nova Constituição daria forma ao Estado Novo, com censura, polícia política e catecismos morais. Nesse cenário, a marca de filha ilegítima funcionava como sentença social. Em cada escola e em cada sala de visitas, o nome de Florbela era pronunciado com cuidado, e a sua origem, pesadamente anotada. Às mulheres exigia-se recato e obediência; cedo ela percebeu que respirar pedia permissão.
Ainda jovem, decidiu estudar, escrever, disputar lugares reservados. Preferiu a universidade à rendição, o caderno à conveniência. Daí em diante, a pena passou a dizer o que o corpo sabia dizer, com calor e medida, com precisão no corte. Enquanto a Ditadura Militar fechava portas e a moral pública estreitava corredores, ela escolheu a escrita como espaço onde ainda se abriam janelas. Foi gesto de sobrevivência.
A infância guardou fissuras que atravessam décadas. Houve nomes trocados em cartório, um pai que demorou a reconhecer, uma mãe que sustentou a casa com uma coragem quieta, e uma menina que se percebeu dividida e, por isso mesmo, atenta ao que não se dizia. Desses hiatos nasceram diários, cadernos, cartas; uma necessidade de nomear o que ardia por dentro. No papel buscou medida; no corpo pagou o preço.
Vieram os casamentos, três, cada um com a sua promessa e a sua ruína. No primeiro, com Alberto Moutinho, em 8 de dezembro de 1913, dia em que completou dezenove anos, ela tentou a vida doméstica e o magistério e descobriu que a docilidade esperada não cabia na sua respiração; o divórcio de 1921 expôs a poeta ao julgamento social, mesmo com a lei a permitir o rompimento desde 1910. No segundo, com António Guimarães, casou-se em 1922 e divorciou-se em 1923, no rescaldo de um novo aborto e de um país em que a vizinhança preferia a reprovação a qualquer escuta. No terceiro, com o médico Mário Lage, em 1925, encontrou cuidado e cansaço ao mesmo tempo, consultas que prometiam sossego e noites que o desmentiam; a casa do Porto deu abrigo parcial, e a escrita continuou a ser o único lugar inteiro. Entre mudanças de endereço, receitas, domingos suspensos e cartas guardadas, ficou um caderno que a acompanhou por todo lado, com caligrafia que tentava ordenar o que a vida desfazia.
Em 1927, a morte levou o irmão Apeles, num acidente de hidroavião no Tejo, entre Porto Brandão e a Trafaria. A ferida não cicatrizou; instalou frio no fundo da voz. A família encolheu, a poeta escreveu cartas sem alívio, e a agenda dos dias perdeu margens. A partir daí, o corpo falou de outra maneira. A saúde vacilou; os nervos estalaram; o escuro aproximou-se. Ela tentou remédios, prometeu disciplina, recomeçou, voltou a cair. Nada se mantinha. O trabalho segurava por instantes; a poesia, persistente, desenhava um destino que se insinuava desde cedo.
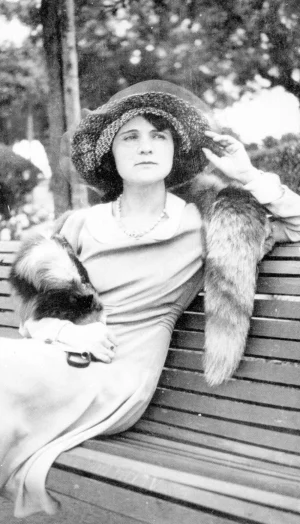
A obra manteve o passo e alargou o fôlego. Em “Livro de Mágoas”, de 1919, a dor aprende sujeito e verbo; em “Livro de Sóror Saudade”, de 1923, a melancolia ganha casa e janela; em “Charneca em Flor”, lançado em 1931, quando a autora já faltava, a matéria do corpo acende o campo inteiro. A edição póstuma vigiou-se em notas breves; mais tarde, reedições persistentes levariam o nome para salas de aula e prateleiras domésticas. Dentro desses livros, poemas que funcionam como um espelho que não devolve rosto, devolve pulso: “Ser poeta”, altura de exigência que não recua; “Amar!”, excesso dito de frente; “Fanatismo”, vertigem que admite perda e desejo. O soneto, em catorze passos, guarda o trovão e não derruba a coluna; a cadência oferece beleza e inquietação, a forma clássica deixa passar um tremor íntimo. De página em página, fica uma sede que não se esgota. O amor abre precipícios; a vida impõe uma altura difícil; o corpo pede distância e regressa. O erotismo não procura plateia, procura verdade. A linguagem dispensa véus e trabalha a temperatura de cada palavra até que ela diga exatamente o que tem a dizer.
Portugal leu com curiosidade e ressalvas. Alguns celebraram; muitos sussurraram reprovações. Em conversas de sala, o carimbo de escandalosa colava-se a quem nunca a lera inteira; o rótulo de libertina servia de atalho para a recusa. Ela afinou a voz e recusou enfeites piedosos. Insistiu na primeira pessoa para registrar alegria, culpa, espanto, vertigem. Os livros saíram com intervalos angustiados, muitas vezes pagos com economias domésticas. A crítica perdeu ocasiões, preferindo tabelas morais às suas páginas. Ainda assim, leitores fora das salas de crítica, quando a encontraram de verdade, reconheceram humanidade sem verniz.
No plano público, a cortina continuou a descer. O golpe de 1926 convertera a vida cívica numa administração de silêncio; a partir de 1933, a máquina legislou sobre corpos e almas. A mulher universitária, independente, sexualmente franca, tornou-se figura inconveniente. Se escrevia sobre o próprio corpo, afrontava; se trabalhava fora de casa, arriscava rótulos; se amava sem autorização, pagava com reputação. Florbela levou originais a jornais e pediu espaço, colheu negativas e afetos tímidos. A escrita, para ela, não oferecia paz; oferecia dignidade, e, junto dela, uma solidão que aprendeu a morar na pele.
O corpo declinou. Na madrugada, a insônia deixava resíduos no dia. Os amigos aconselharam descanso em cartas que misturavam estima e receio; ela respondeu com páginas onde doçura e desespero alternavam. Conheceu consultórios de psiquiatria, tentou fórmulas que acalmavam por pouco, prometeu rotinas, recaiu, retomou. A cada encontro amoroso, acreditou em futuro; o futuro adiou-se. O caderno, porém, permaneceu aberto. Entre duas receitas, nascia um soneto que lhe devolvia fôlego.
Nas últimas semanas de 1930, o país afunilava a voz. A Ditadura Militar consolidava disciplina e vigilância; as redações aprendiam a medir palavras; a moral pública recalculava limites. No Porto, a chuva fina grudava nas janelas; em Matosinhos, a névoa encurtava as ruas. Na casa onde vivia com o médico Mário Lage, a rotina misturava cuidado e fadiga: consultas durante o dia, a promessa de sossego na mesa de cabeceira, a esperança posta em frascos alinhados. A correspondência rareou. As visitas tornaram-se breves. Os passos dela ficaram prudentes. Havia uma lista de pequenos esforços — comer, dormir, responder — e, por baixo, a vibração contínua de uma dor que não encontrava descanso.
Nos dias finais, a poeta contou o tempo em tarefas simples. Arrumou papéis, leu provas de anos anteriores, dobrou cartas, escolheu um poema para reler antes de apagar o abajur. O mar, ao fundo, deixava um bafo fundo que atravessava a parede. Na cidade, o comércio afinava contas para o Natal; nos jornais, espalhavam-se notícias de economia escassa e de autoridades que pediam ordem. Ela escrevia pouco, mas com nitidez: frases curtas, uma intenção de deixar tudo em lugar visível. À noite, as mãos demoravam-se sobre o tampo da mesa, e a tinta secava devagar, como quem espera uma decisão que se aproxima.
Na véspera do aniversário, a tensão adensou-se. A casa ficou menor. Os remédios, medidos com cuidado caseiro, ganharam uma presença que pesava mais do que os copos. A lembrança de Apeles visitou o quarto; a memória de amores partidos passou rápido, mas deixou sinais. Os sonetos lidos em voz baixa devolveram-lhe uma música de coragem e de perda. No corredor, a claridade do fim de tarde riscou os rodapés; na cozinha, a água fervida esqueceu uma caneca. Não houve discurso, nem gesto teatral. Houve apenas uma contabilidade íntima, somada ao longo de anos.
Chegou o aniversário. A casa de Matosinhos recebeu a tarde curta de dezembro. O mar manteve um ronco grave; as ruas cheiravam a peixe e carvão úmido; o porto trabalhava sem olhar para dentro das casas. No interior do quarto, acertos íntimos. Os frascos medidos, a decisão lenta, a última linha do diário. A coincidência das datas tinha a marca de quem prefere fechar o círculo com a própria mão. Não foi o primeiro precipício; houve tentativas anteriores e regressos exaustos. Em 8 de dezembro de 1930, veio o definitivo. O corpo aquietou-se; a cidade apagou luzes no fim do expediente. No dia seguinte, um diário do Porto anotou: “Poeta de 36 anos encontrada sem vida; a família pede reserva.” Nos demais jornais, notas breves, a escolha habitual para tragédias femininas.
Horas depois, permaneceram os objetos: a cama puxada para a parede, o casaco em silêncio sobre a cadeira, os livros no lugar de sempre. “Livro de Mágoas” e “Livro de Sóror Saudade” continuaram de pé na estante; “Charneca em Flor” esperava o caminho de tipografia e tinta. Na rua, pescadores ajustaram redes; no cais, homens carregaram caixas; a noite desceu sobre telhados com pressa de inverno. Dentro, a ausência organizou a sala. Os objetos retiveram um pouco de calor, como brasa acesa no fundo do cinzeiro. O país prosseguiu com a sua aritmética severa.
A tragédia não pertenceu a um instante isolado. Foi construída nos meses anteriores, entre prescrições, esperanças curtas, censuras discretas, trocas de sorriso e etiqueta social que cortava o ar. O gesto final condensou tudo: a falha de uma época com mulheres que pediam liberdade, a violência muda da doença e o cansaço de quem lutou até perder as palavras. Depois, vieram os recados secos da imprensa, a memória doméstica guardada em caixas, e a poesia, que ficou no lugar de um fôlego cortado. Quem a lê, agora, escuta ainda aquele quarto de dezembro, não para repetir a morte, mas para reconhecer o preço que uma vida pagou para dar linguagem ao que doía.
A morte abafada não impediu a obra de crescer. A posteridade ampliou a voz, desmontou etiquetas de escândalo e ajustou o lugar que lhe cabe. Leitores tardios voltaram aos sonetos e aceitaram o timbre de fervor; estudiosos revisitaram arquivos, cartas, testemunhos; editoras recolocaram livros nas prateleiras. Houve décadas de silêncio educado; a consagração veio em leituras persistentes, seminários, professores pacientes. A poesia entrou em antologias, atravessou salas de aula, encontrou leitores que a levaram para dentro de casa. O trajeto de maldita a reconhecida não foi súbito; exigiu tempo e outra disposição para escutar mulheres que escrevem de dentro de si.
Voltar aos livros é reencontrar imagens que brilham por dois motivos ao mesmo tempo: clareza e risco. O erotismo fala do corpo e assume consequências. O amor não recompensa nem pune, atravessa e exige pagamento. A solidão nomeia o ponto a que ninguém alcança. A ambição de infinito traduz a recusa de limites modestos, desejo de altura, pressa de vida. Cobra tributo e, em troca, deixa literatura de altura rara. Em “Livro de Mágoas” e em “Livro de Sóror Saudade”, a dor aprende dicção; em “Charneca em Flor”, a matéria do corpo ganha nervo e temperatura.
No ponto onde a vida começou e terminou, permanece um clarão. Fica a linha dos sonetos, cada sílaba em lugar exato, o peso justo dos adjetivos, a estratégia de conter a catarse no molde clássico; e, em contraluz, a vida real, tantas vezes fora de quadro. Florbela morreu em 8 de dezembro de 1930, aos trinta e seis, e escolheu a data do próprio início. Desde então, os seus livros mantêm aberta uma ferida que não fecha, ardendo baixa, teimosa, no centro da literatura portuguesa.
Eis a imagem que resta e não passa: a casa em silêncio, o cheiro de carvão e de sal, o mar batendo em compasso longo atrás das paredes, o papel alinhado no escuro da estante. “Ser poeta”, “Amar!”, “Fanatismo” acendem pontos de fogo na noite e a voz, que parece calada, volta a mexer a sala. Quem lê sai com o peito marcado, aquecido por dentro, como depois de um inverno longo. E entende, sem enfeite, que alguém escreveu até o limite da própria vida, e deixou páginas que ainda queimam na mão de quem as abre.







