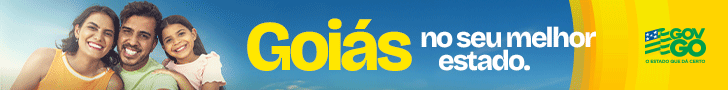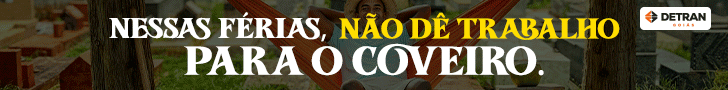A imagem inicial não é apenas de um jovem sonhador. É também de um mercado que reitera suas fábulas, embalando-as em novas cores para vender memórias recicladas. Em “Wonka”, Paul King revisita um personagem que atravessou décadas, páginas e telas. O filme, lançado em 2023, não se apresenta como mais uma adaptação de “Charlie and the Chocolate Factory”, publicado por Roald Dahl em 1964, mas como prequela: a tentativa de compreender como nasceu o mago dos doces que viria a enfeitiçar gerações. Ao fazer isso, King não evita os riscos da repetição, mas aposta no equilíbrio entre musical clássico e crítica social disfarçada em fantasia.
O peso do legado é inescapável. “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, de Mel Stuart, lançado em 1971, já havia transformado Willy Wonka em figura cultural incontornável, e a versão de Tim Burton, em 2005, deslocou a sátira de Dahl para um território mais sombrio e excêntrico. Ao decidir voltar no tempo, King inscreve seu projeto na difícil tradição das prequelas. O risco seria repetir o já conhecido, mas sua estratégia é outra: usar o musical como chave de reinvenção. Não se trata de mostrar a fábrica pronta, mas de acompanhar a fragilidade do início, quando a ideia de um império de chocolates ainda parecia improvável.
Timothée Chalamet, aos 27 anos, assume a responsabilidade de rejuvenescer o mito. Sua carreira, marcada por filmes como “Call Me by Your Name” (2017) e “Duna” (2021), já o havia consagrado como rosto da juventude contemporânea. Em “Wonka”, ele acrescenta a esse currículo a leveza do musical. Sua fisicalidade, marcada pela fragilidade de um corpo magro, encontra contraponto no vigor obstinado do personagem. Chalamet canta, dança e interpreta sem distanciamento irônico; prefere o registro da sinceridade, construindo um Willy Wonka que não impressiona pela genialidade precoce, mas pela teimosia. A ingenuidade, longe de ser um defeito, é seu recurso para sobreviver em um ambiente hostil.
Esse ambiente é uma cidade inventada, entre Dickens e Andersen. Não é Londres, tampouco Paris, mas um híbrido das duas, com ruas estreitas, vielas escuras e prédios que evocam a opressão de tempos históricos. A atmosfera sugere miséria, corrupção e pequenas traições. É nesse cenário que o protagonista tenta abrir sua loja, convencido de que talento e dedicação são suficientes. Mas a cidade, tal como desenhada por Paul King, funciona como metáfora do mercado monopolista: não há espaço para sonhos ingênuos. Os adversários que surgem não são apenas vilões de contos infantis, mas alegorias da lógica de exploração.
O triunvirato de confeiteiros mafiosos — Slugworth, Prodnose e Fickelgruber, vividos por Paterson Joseph, Matt Lucas e Matthew Banton — controla a cidade com mão de ferro. O chefe de polícia, interpretado por Keegan Michael Key, revela a engrenagem de corrupção, aceitando subornos em chocolates finos. Olivia Colman e Tom Davis, como a estalajadeira Scrubitt e seu cúmplice Bleacher, representam outro tipo de exploração: a armadilha da hospitalidade falsa, que transforma o protagonista em devedor indefeso. O grotesco é deliberado: ao exagerar defeitos, King reforça a crítica. Não se trata de buscar realismo, mas de usar a caricatura como lente de aumento.
No meio desse labirinto, a amizade com Noodle, órfã interpretada por Calah Lane, torna-se essencial. Sua presença impede que a narrativa se resuma a um jovem contra o mundo. Noodle é cúmplice, contraponto e extensão do sonho. Sua maturidade precoce não é explicada, apenas exibida, e essa ausência de justificativa reforça sua força. Com ela, Wonka compartilha riscos e esperanças, revelando que até os sonhos individuais precisam de cumplicidade para existir. O musical, nesse ponto, abandona qualquer risco de sentimentalismo fácil: a parceria é motor narrativo, não adereço.
A direção suaviza a dureza do material ao incluir flashbacks da mãe de Wonka, interpretada por Sally Hawkins. São cenas curtas, mas decisivas: funcionam como pausas de ternura em meio à hostilidade. A personagem aparece como guia espiritual, quase fada madrinha, oferecendo ao filho a barra de chocolate que se tornará amuleto. O objeto, que não envelhece, simboliza a própria essência do filme: a tentativa de preservar algo doce em meio ao azedo da realidade. Não é gratuito que o chocolate apareça como memória resistente, não como mercadoria.
A música reforça essa lógica de confissão íntima. Composta por Neil Hannon, do The Divine Comedy, a trilha se recusa a ser apenas ornamentação. As canções surgem como respiração, não como espetáculo. O ápice é “A Hatful of Dreams”, interpretada por Chalamet com delicadeza vulnerável. Não parece número de palco, mas súplica. Esse é o ponto em que o musical deixa de ser gênero e se torna linguagem: a canção traduz emoção, transforma desejo em som.
O figurino de Lindy Hemming acompanha a estética da precariedade. O paletó magenta, gasto nas bordas, não é fantasia, mas sinal de desgaste. O chapéu de palha funciona como coroa improvisada, símbolo de uma realeza possível. O design de produção segue a mesma lógica: a cidade é grandiosa e decadente ao mesmo tempo, lugar onde riqueza e miséria convivem. O espaço reforça a mensagem: Wonka não emerge de uma terra encantada, mas de um terreno áspero. O doce é promessa, nunca realidade.
O contexto histórico de produção ajuda a entender a aposta de Paul King. Escolhido após o sucesso de “Paddington” e “Paddington 2”, o diretor já havia demonstrado habilidade em equilibrar ternura e crítica social. Em “Wonka”, ele leva essa habilidade a um novo nível, assumindo o risco de trabalhar com um ícone literário. O filme estreou em dezembro de 2023, em meio a uma temporada dominada por blockbusters de ação e super-heróis. Alcançou bilheteria global superior a 600 milhões de dólares, um feito notável para um musical. A recepção crítica foi positiva: elogiou-se sobretudo a performance de Chalamet e a capacidade de King em mesclar nostalgia e reinvenção. Houve críticas à ingenuidade excessiva, mas mesmo elas reconhecem o valor do projeto como alternativa às fórmulas saturadas de Hollywood.
O resultado é um conto de fadas político. A ingenuidade de Wonka, ao enfrentar vilões corruptos, funciona como alegoria da tensão entre criatividade e monopólio. O sonho de abrir uma loja de chocolates é, ao mesmo tempo, utopia e ironia, pois já carrega em si a sombra da indústria futura. O chocolate, aqui, não é apenas alimento ou prazer, mas mercadoria e poder. Ao optar pela juventude de Willy Wonka, Paul King não só amplia o universo de Dahl, como oferece uma reflexão sobre como sonhos se constroem em meio a estruturas adversas.
“Wonka” não pretende ser revolução estética nem novidade semântica. Sua força está em reinscrever um mito em um tempo que exige falar de corrupção, precariedade e esperança ao mesmo tempo. É musical infantil e é comentário social. É produto de nostalgia e também alegoria contemporânea. Entre o açúcar e a sombra, o filme encontra o espaço de uma fábula que resiste porque insiste em lembrar que até os sonhos mais açucarados precisam atravessar um terreno áspero antes de se tornarem realidade.
★★★★★★★★★★