A rua estava ali. Era 1942. Calçada lisa, chuva talvez, ou apenas o que restava da manhã esfriando a luz sobre Drohobycz. Um homem franzino caminhava dobrado sobre um envelope. Ele não corria, não gesticulava, não fazia alarde. Dava passos como quem sonha com os olhos abertos. Schulz não parecia ter pressa, o mundo é que vinha como se quisesse apagá-lo. E apagou. Um oficial nazista, Schutzstaffel, nome impronunciável, o interceptou. Bruno parou. Não disse nada. Um tiro. Pelas costas. O envelope desapareceu, e com ele talvez o único romance inédito que ele teria escrito, “O Messias”. O corpo caiu. A literatura ficou. Não inteira, não em paz, mas suficiente para desafiar o tempo com o que lhe restou: fragmentos, visões, ecos.
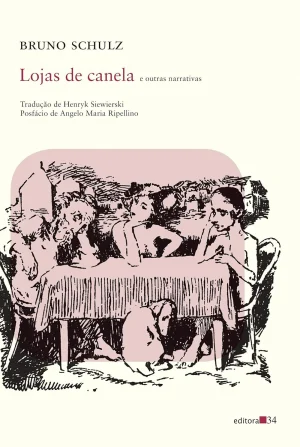
Ele nasceu em 1892, na então Galícia Oriental, um entreposto apagado entre impérios, onde ucranianos, poloneses, judeus e austríacos coexistiam por tensão. Filho de um comerciante de tecidos, Schulz cresceu sob o barulho das rodas de trem e a poeira de ruas onde tudo parecia demasiado provisório. Era judeu. Tímido. Professor de desenho. A cidadezinha de Drohobycz, que hoje mal figura em mapas turísticos da Ucrânia, foi seu mundo inteiro, e também sua mitologia. Recluso, epistolar, insone. Escrevia como quem rabiscava com medo de ser ouvido.
Publicou pouco. Pouquíssimo. “Sklepy Cynamonowe”, “Lojas de Canela”, saiu em 1934. Três anos depois, “Sanatorium pod Klepsydrą”, “Sanatório sob o Signo da Clepsidra”. Não eram livros tradicionais, nem romances no formato habitual. Eram ciclos. Câmaras de eco. No Brasil, ambos foram publicados pela Editora 34, em traduções densas e precisas de Henryk Siewierski, que capturam a estranheza rítmica e o delírio poético da prosa original. Pedaços de uma infância tão recriada que já não parecia infância, mas delírio. O narrador vagava entre ser menino e ser um velho sonhando que é menino, entre recordar e inventar. Entre o pai e Deus, entre o sótão e o universo. Schulz criava um tempo pastoso, lunático, sem começo. A arquitetura se derretia nos parágrafos. As árvores flutuavam. O corpo se desfazia e voltava a se compor em adjetivos que soavam como verbos esticados. Escrever, para ele, era desorganizar o mundo até que ele coubesse de novo na mente de uma criança febril.
Os contemporâneos não sabiam o que fazer com ele. Witold Gombrowicz, amigo e corresponsal, o defendia como gênio, mas com certa ironia. A crítica polonesa oscilava entre espanto e indiferença. Chamavam-no de excêntrico. Ele respondia com silêncio ou cartas longas e labirínticas. Seu corpo miúdo e sua caligrafia apertada talvez já anunciassem o que viria: a escrita como fuga, a estética como disfarce. Schulz pintava suas cartas com imagens mais densas que muitos livros. Escrevia como quem não pertencia ao tempo. Ou, pior, como quem sabia que o tempo não lhe pertenceria por muito mais.
A influência de Bruno Schulz sobre Borges e Nabokov nunca foi proclamada, mas está lá, subterrânea, quase como uma coincidência inevitável. É verdade que nenhum dos dois o citou diretamente, ao menos nos registros conhecidos. Mas as afinidades são assombrosas. O tempo como espiral, o espelho como armadilha, a infância como matéria cósmica, tudo o que Borges transformaria em geometria e metáfora, Schulz já tinha dissolvido em alucinação. Se Borges o tivesse lido antes, talvez sua ideia de eternidade fosse menos matemática e mais febril. Nabokov, por sua vez, compartilha com Schulz uma obsessão pela frase sensorial, pelo detalhe que vibra, pela memória filtrada pelo sonho, embora jamais o tenha reconhecido. Philip Roth, este sim, assumiu a filiação com clareza. Foi quem introduziu Schulz ao público americano, publicando-o na série “Writers from the Other Europe” da Penguin. Para Roth, Schulz não escrevia histórias, escrevia uma infância expandida até o delírio. E Cynthia Ozick, talvez sua leitora mais devota em língua inglesa, fez dele personagem oculto em “The Messiah of Stockholm”, um romance sobre o poder de um manuscrito que talvez nem exista. É assim que Schulz atua, como um autor que parece ter influenciado até quem nunca soube tê-lo lido.
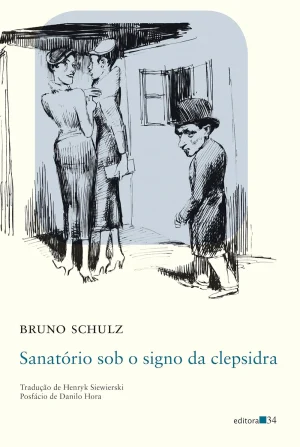
Mas nada disso salvou o autor do esquecimento durante décadas. Bruno foi morto em 19 de novembro de 1942, alvejado por um oficial nazista chamado Karl Günther. Não foi por causa de sua obra. Não foi por subversão. Foi vingança pessoal: Günther matou Schulz para punir outro oficial que havia matado um dentista judeu protegido por ele. Como se humanos fossem fichas de um jogo de sadismo. Chamaram isso de jogos de xadrez humano. Schulz foi uma peça sacrificada numa disputa entre psicopatas.
O manuscrito que ele carregava nunca foi encontrado. Era “O Messias”, supostamente um romance em andamento. Dizem que o texto foi confiscado. Ou queimado. Ou escondido em alguma biblioteca subterrânea. Mas ninguém sabe. O que se tem são suposições, vestígios, rumores. E os textos anteriores. Apenas isso.
Jerzy Ficowski, poeta e pesquisador obsessivo, dedicou trinta anos a tentar reconstruir o que pôde da vida e da obra de Schulz. Visitou familiares, rastreou cartas, traduziu pedaços esquecidos. Foi por ele que o nome de Schulz ressurgiu. Foi ele quem convenceu editoras a republicar os contos. Cynthia Ozick tentou ir além: sugeriu em ensaio que Israel organizasse uma operação de recuperação dos manuscritos, algo como um Mossad cultural. Ninguém levou a sério. Ou talvez tenham levado, mas calado. Porque Schulz, no fim, continuava sendo o mesmo: um espectro. Presente e ausente. Lido e desaparecido.
Hoje, suas obras estão disponíveis em edições da Penguin Classics, como “The Street of Crocodiles and Other Stories”, e no Brasil são publicadas pela Editora 34, em traduções cuidadosas que preservam a densidade lírica de seus contos. Mas Schulz nunca foi exatamente um autor de catálogo. É um nome que reaparece em bibliotecas de obsessivos, em margens de ensaios, em listas sussurradas. Está nas prateleiras de quem coleciona assombrações. Cineastas como Agnieszka Holland já mencionaram sua influência, sobretudo pela atmosfera sonâmbula que atravessa seus textos. Poetas e escritores como David Grossman, Nicole Krauss ou Olga Tokarczuk falam dele como quem evoca um parente distante e espectral, alguém que escreveu do outro lado do espelho. Não porque deixou muitos livros. Mas porque o pouco que escreveu parece conter uma biblioteca inteira, dobrada em miniatura, como aquelas vitrines de relojoeiro, em que tudo ainda pulsa mesmo sob o vidro.

Bruno Schulz escreveu como quem sabia que seria lido por poucos. E talvez por isso escrevesse com tanto cuidado. Seus adjetivos não soam como ornamento; são sobrevivência. Cada frase é uma espécie de escudo, ou um bilhete escondido no bolso de alguém que não voltará. Ler Schulz hoje é como ler um sussurro que escapou da extinção. É como encontrar um caderno inteiro dentro de uma caixa de fósforos. A chama já passou, mas a fuligem ainda tem algo a dizer.
A história de Schulz é um parágrafo interrompido. Mas as frases que ele deixou continuam em movimento. Talvez porque ele escrevia como quem não voltaria. Talvez porque seus textos já soubessem que o mundo não o leria inteiro. Mas parte sim. O suficiente para permanecer.







