Há quem diga que toda obra é feita de outras leituras. No caso de Raduan Nassar, essa afirmação talvez seja incômoda demais, porque exige adivinhar o que ele sempre preferiu guardar. Nassar nunca foi um autor de reverências públicas. Deu poucas entrevistas, recusou homenagens, retirou-se quando o país inteiro ainda o descobria. Mesmo assim, em raros momentos, deixou escapar nomes. Títulos. Ecos. Não explicou muito. Mas o que deixou entrever permite um gesto raro: rastrear não a biblioteca inteira, mas as fissuras que ele escolheu manter abertas. Jorge de Lima, por exemplo, foi um desses nomes. Quando falou de “Invenção de Orfeu”, disse que lia sem entender, mas entendia demais. É um tipo de leitura que não se resume à análise. É quase corpo. Também leu “S. Bernardo”, de Graciliano Ramos, com o respeito de quem reconhece a arquitetura da secura. De Robbe‑Grillet, disse que a literatura era civilizada demais, mas “bem construída”. E mergulhou. E ficou. Em Bacon, encontrou método, sim. Mas também ruptura. Há uma coerência curiosa nesses quatro livros: nenhum deles é passível de leitura fácil. Todos exigem escuta. E todos parecem guardar, de algum modo, a mesma tensão que existe nos seus próprios textos. Uma violência contida, uma lógica que beira o delírio, uma organização que quase fere. Raduan não falou de Kafka, nem de Proust, nem de Clarice. Não por rejeição, provavelmente. Mas porque o que ele leu como releitura nunca foi moda. Foi ferida. E isso importa. Porque quando alguém se retira da literatura como ele se retirou, tudo o que resta é voltar ao que ficou. E ali, entre os poucos títulos que confessou, talvez esteja o que ele próprio não quis escrever mais. Porque já tinham escrito. E tinham escrito do único jeito que ele mesmo parecia achar aceitável: com urgência, com rigor, com silêncio. Reler, nesse caso, nunca foi nostalgia. Foi permanência.
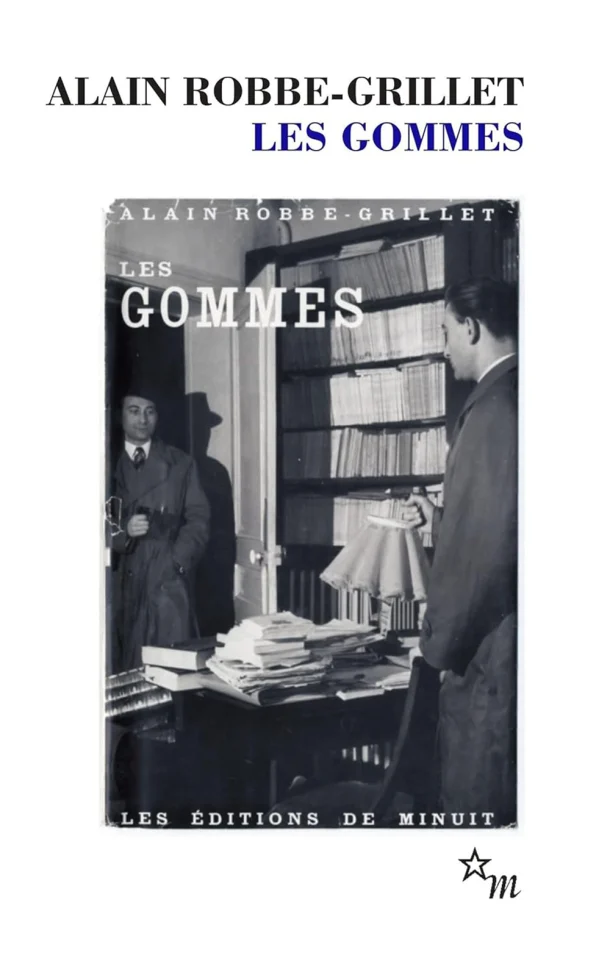
Um homem caminha por uma cidade. Está em missão, ou talvez em simulação de missão. O que deveria ser um romance policial se desmancha em descrições obsessivas, repetições de gestos, objetos, rotas. Cada espaço parece ter sido inventado para ser percorrido em vão. O detetive — se é que o é — busca um culpado ou uma pista, mas encontra, sobretudo, a dissolução de qualquer certeza. O texto rejeita os artifícios do enredo clássico: não há suspense, não há progressão lógica, não há mesmo garantia de que um crime tenha ocorrido. Em vez disso, há um cenário minucioso, quase clínico, descrito com rigor geométrico, onde o real se torna instável por excesso de nitidez. A linguagem é seca, controlada, mas perturba pela repetição e pelo deslocamento constante. Robbe-Grillet conduz a narrativa como quem desconstrói o próprio gênero que ocupa. O resultado não é a resolução de um caso, mas o esvaziamento de sua possibilidade. Um romance que, ao apagar o que se espera do romance, revela outro tipo de leitura: mais inquieta, mais circular, mais visual. Uma leitura onde a dúvida é o único traço que resiste.

Atravessar este poema é aceitar que não há linha reta onde a linguagem foi feita para circular. Não há protagonista, há uma voz que se desdobra em vozes, num percurso em espiral que busca o absoluto e, ao mesmo tempo, o que há de mais íntimo na perda. A escrita não se organiza como épico nem como lírica pura. Ela funde Bíblia, mitologia, exílio, barroco, Atlântico e infância. Em sua estrutura fragmentária, o livro se constrói em camadas, como um coral onde nenhum verso é definitivo e nenhuma imagem permanece intacta. A viagem é do espírito, mas também da terra: da África à Roma, do mar ao verbo. O ritmo é ora litúrgico, ora abrupto, como se o autor testasse o fôlego do leitor. A leitura exige atenção de corpo inteiro, porque o texto não se deixa reduzir à compreensão lógica. O que se entende é menos importante do que o que se pressente. É poema que funde cosmogonia e abismo, fé e forma. E, ao fim, ainda que não se chegue a Orfeu, algo se descobre da linguagem como reinvenção do mundo.
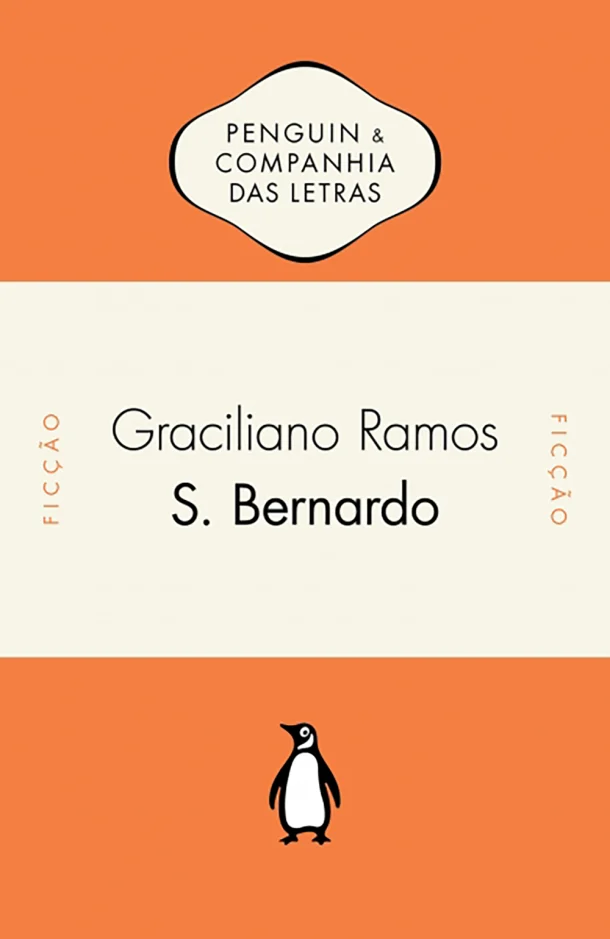
Um homem que aprendeu a dominar a terra decide também dominar a linguagem. É ele quem narra, em tom direto, sem piedade, como se a escrita fosse um acerto de contas com a vida. Paulo Honório é o proprietário do engenho São Bernardo, mas a história que conta não é a de uma fazenda, e sim a de um homem que se construiu à força e que agora tenta entender o que perdeu no processo. O romance é narrado em primeira pessoa, num monólogo que revela muito mais do que pretende esconder. A linguagem é seca, cortante, cheia de elipses morais e confissões desconfortáveis. O tempo narrativo oscila entre o presente do relato e o passado das ações, compondo uma espécie de tribunal íntimo em que o protagonista se julga e, ao mesmo tempo, se justifica. A estrutura é contida, mas os afetos são densos. Não há heroísmo, apenas o peso do que foi feito. O resultado é um dos romances mais impactantes da prosa brasileira, não pelo que enfeita, mas pelo que retira. E pelo silêncio que deixa depois.
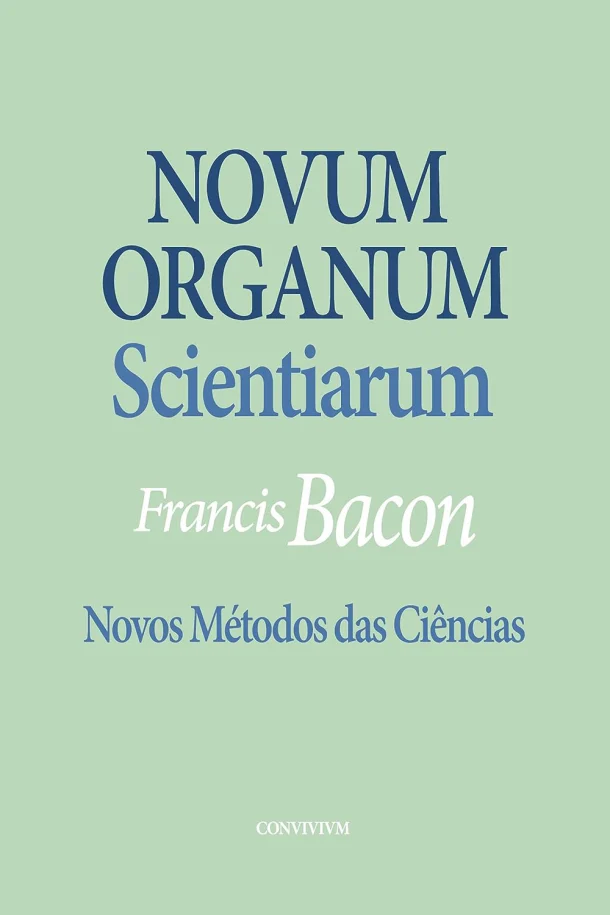
Nenhuma tese é oferecida aqui como verdade definitiva. O que Francis Bacon propõe é o desmonte dos velhos métodos e a construção de um novo instrumento: um organum que sirva à investigação empírica e à observação rigorosa. Contra os ídolos do pensamento — aqueles formados pela linguagem, pela tradição, pela autoridade ou pelas limitações individuais — ele ergue um método baseado na indução sistemática, no acúmulo paciente dos fatos, na recusa ao argumento por si só. A linguagem é clara, racional, direta, mas sem ser árida. Bacon não escreve para convencer com retórica; escreve para deslocar hábitos de pensamento. A obra se estrutura em aforismos, cada um construído com precisão e progressão, como degraus de um percurso lógico que pretende ser, ao mesmo tempo, método e ruptura. Não há narrativa nem personagem, mas há tensão: entre crença e dúvida, entre hábito e descoberta. Ler este livro é entrar em um laboratório filosófico onde a observação é mais confiável que a convicção. É filosofia que funda ciência. É técnica que se faz crítica.









