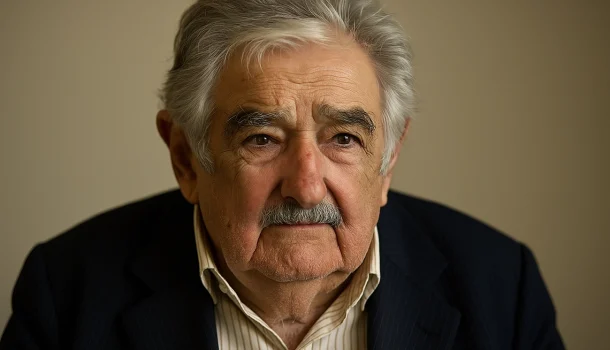Há livros que dizem muito. Outros que calam — e, nesse silêncio, fazem o mundo estremecer. “Tudo é Rio” tenta fazer os dois. E falha nos dois. Grita como se a dor precisasse de megafone e se recolhe quando mais se espera a coragem de um gesto. O que resta, então, não é voz — é ruído. Bonito, por vezes. Mas ruído.
O romance de Carla Madeira se vendeu ao sentimento — mas não ao risco. Encantou multidões com sua promessa de intensidade lírica, amor visceral, perdão como salvação. Foi devorado em aeroportos e salões de beleza, citado em velórios e clubes de leitura. E talvez aí esteja o indício mais delicado — e mais inquietante: o que há nesse livro que se encaixa tão bem em todas as fendas emocionais contemporâneas? Não será o excesso de beleza. Nem a linguagem. É a fórmula.
A história de Dalva, Lucy e Venâncio se constrói como um ciclo fechado de arquétipos: a mulher que sofre sem odiar, a prostituta que ama como criança ferida, o homem que deseja e se culpa. Poderia haver aí um campo fértil para a complexidade humana. Mas há, ao contrário, uma simplificação travestida de profundidade. Tudo pulsa demais. Tudo dói demais. Tudo se resolve rápido demais. E o que parece visceral, às vezes — talvez muitas vezes — é só efeito especial.

O estilo, que tenta soar como um poema prolongado, escorrega frequentemente no melodrama. Frases curtas, cortadas como suspiros, acumulam-se como se cada uma fosse uma sentença. Mas a repetição desse efeito o transforma em truque. A prosa se cansa de si mesma. Palavras como “sangue”, “rio”, “dor”, “vazante”, “pele” — estão por toda parte, como se o texto quisesse lembrar o tempo todo que está sangrando. Mas a carne real — essa, paradoxalmente, nunca é mostrada.
E há o sexo. Muito sexo. Quase como um argumento. Lucy, em especial, é uma personagem feita de desejo alheio. Seu corpo não tem voz — tem função. Ela existe para excitar, para sofrer, para ser tocada com violência e depois absolvida por um amor redentor. A prostituição não é vivida, é mitificada. O orgasmo não é físico, é redenção. Tudo é simbólico demais, o que, nesse caso, empobrece. Porque o símbolo, quando não se encarna, evapora.
Talvez o mais grave seja o modo como a violência é tratada. Há um assassinato. Uma perda irremediável. Uma dor que, na vida real, calcificaria o peito. Mas aqui, em poucas páginas, tudo já é perdoado. Como se o luto, para existir, precisasse ser limpo, editado, convertido em superação. Como se a literatura não pudesse deixar a dor apodrecer um pouco, para cheirar como ela realmente é. A pressa em transformar sofrimento em beleza revela mais sobre a insegurança da narrativa do que sobre a grandeza dos personagens.
O perdão, esse ponto central do livro, vem sem hesitação. Como se fosse a única saída possível. Mas há beleza no ressentimento também. Há dignidade na raiva. Nem todo amor tem vocação para curar. E insistir que sim, que tudo se redime, que tudo escorre como rio — é impor uma harmonia onde deveria haver fratura. A literatura não tem compromisso com a paz.
E, no entanto, o livro foi abraçado com fúria. Lido como um evangelho emocional. Recomendado como se quem não o lesse estivesse perdendo algo da alma. É quase um tabu dizer que ele não é bom. E esse silêncio coletivo é mais interessante do que o livro em si. Talvez revele que estamos famintos por uma dor que nos permita chorar sem culpa. Que buscamos uma literatura que nos abrace, mas que não nos exija. Uma literatura que acene com as mãos, mesmo quando deveria cortar.
Há momentos bonitos, sim. Há frases que tocam, imagens que funcionam. Mas é pouco. A beleza verdadeira exige mais que comoção. Exige tempo. Contradição. Aquilo que “Tudo é Rio” parece temer: a ambiguidade.
O problema não é ser um livro popular. É ser um livro que se esconde atrás da sua popularidade para evitar a crítica. Um livro que se protege do dissenso com um exército de leitores emocionados — como se sentir muito fosse a mesma coisa que compreender profundamente. Não é.
A idolatria literária, quando infantiliza a leitura, transforma emoção em fetiche. O sofrimento vira estética. A dor, performance. E a literatura — essa que sangra em silêncio, que fere, que hesita, que desconcerta — essa fica do lado de fora, esperando alguém ter coragem de perguntar: e se não for tudo rio? E se algumas feridas não cicatrizarem nunca?
Porque algumas não cicatrizam. E é aí que a literatura começa.