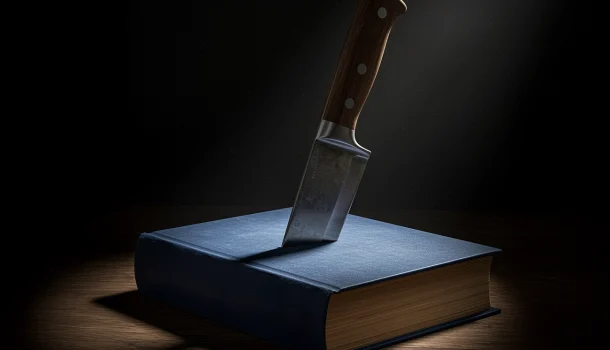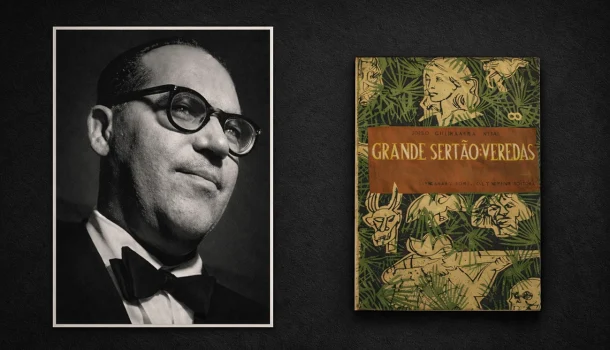Rio, início dos anos 1930, capital em calor de pedra; aparelhos de rádio com mostrador âmbar exausto atrás das rendas, bondes costurando bairros. No fundo de um bar estreito, ar de tabaco e serragem úmida. Noel Rosa empurra a espuma para a borda e encontra o acorde que abre passagem. O assoalho, envernizado de chope seco, prende passos e restos de conversa; o teto suspende a respiração da sala. Ele dobra o papel engordurado, a tosse rasga baixo, o gosto de metal arde, e no lenço fica um mapa de vermelho baço. Guarda o lenço. Acha o tom. Assenta a palavra. A melodia ergue-se do tampo e permanece. Na manhã seguinte viajará em bolsos e lábios, anônima; a cidade jurará que sempre foi dela.
Esquina de Vila Isabel, lâmpada morna, azulejo encardido. Noel encosta o queixo retraído na madeira do instrumento; o salão se organiza ao redor do pulso. Linotipistas com dedos escurecidos, costureiras de fita ao pescoço, motorneiros de palmas gastas, estudantes adiando o sono, senhores de paletó afrouxado. As rodas do bairro se apertam ao tampo gasto; as palavras chegam com música cravada no corpo e pousam no papel. Um riso curto corta o barulho de copos; no azulejo fica a densidade de um aviso. O copo desenha no tampo um círculo frio. “Isso fica”, alguém diz. Noel amarra o compasso e fixa no papel a respiração do país que troca ministros no Catete, opera nos trilhos da Central e descobre no rádio uma praça comum, enquanto a tosse volta, lâmina breve, cobrando juros da madrugada que ele gastou escrevendo.
Quando a República Velha ainda perdia o fôlego e os blocos ensaiavam nos quintais, o menino cruzava ruas assobiáveis entre estandartes pendurados e galinhas ciscando no pó. O fórceps apressado do parto lhe marcara o queixo, pequena ruína que o mundo aprenderia a reconhecer; ele a devolveu em riso breve e resposta ágil. Na escola, desmontava crueldades com trocadilhos que viravam o rosto da turma. Ao descobrir o violão, pousou a mão nas cordas e encontrou um modo de ordenar o barulho do dia; não capricho estético, necessidade. Dali em diante, o incômodo virou sagacidade, e a ironia virou ferramenta de sobrevivência. As melodias começaram a andar sozinhas, atravessando portões, subindo escadas, desenhando o mapa do bairro, aquele que mais tarde ele chamaria de feitiço, como se o soubessem de cor.
No final da década de 1920, com o Rio buscando cadência enquanto o país cambaleava entre a quebradeira do café e a inflexão que se preparava no Catete, ele compôs em surdina. Em 1930, “Com que roupa?” estourou no país inteiro, refrão de bolso em tempos de contas apertadas; conversa cantada capaz de medir o humor de quem negociava fiado. De mesa em mesa, o ouvido recolhia o sotaque das calçadas, o vapor das cafeteiras, a astúcia no troco. Os versos chegaram enxutos, de passo ligeiro, e a cidade se reconheceu neles como diante de uma vidraça de bonde recém-lavada. Em vez de tese, um gesto: o freio que chia no trilho, a ceia servida depressa, a mão pedindo silêncio. O efeito era de crônica em andamento de samba, uma melodia que acendia o todo ao pousar o detalhe no ponto exato.
No Brasil de Vargas, o rádio já era eixo do cotidiano e costurava o território em tramas de estática; Noel entrou nas emissoras com naturalidade aprendida na rua. Saíam de Vila Isabel ao meio-dia e, horas depois, já atravessavam varandas no Norte e no Sul. Revistas de teatro e telas cantadas abriram passagem para a sua presença discreta, melodias de andamento coloquial, dicção sem ornato. Nas rodas de samba, com a madrugada por terminar, as parcerias se adensavam, Vadico, Ismael Silva, outros, cada qual oferecendo uma dobra de ritmo, um sorriso contido. O duelo com Wilson Batista, feito de respostas em música, fixou-se como capítulo duradouro da memória carioca; “Rapaz folgado” e “Palpite infeliz” mantiveram uma conversa que a cidade acompanhou com atenção de arquibancada. Ao longo dos anos trinta, enquanto o país se reorganizava, o samba saltava de quintais para pisos de mármore, o relógio urbano apertava turnos, e Noel aparava a pena à vida concreta. “Três apitos” encostava o ouvido na fábrica; “Conversa de botequim” convertia o pedido ao balconista em diplomacia; “Feitiço da vila” devolvia ao bairro a altivez que só precisava ser dita.

Custava caro. Nos anos 1930, a tuberculose era chamada de peste branca e rondava o Rio com naturalidade assustadora; campanhas municipais esparsas, sanatórios na serra fluminense, cartazes que prometiam ar puro e sol. Sem antibiótico, restavam repouso contado, leite prescrito, altitude; a medicina oferecia disciplina e esperança moderada. A doença entrou sem anúncio, primeiro um ciciar de tosse, depois um cansaço enganador; no linho dobrado, às vezes, uma mancha de ferrugem recusava eufemismo. Os clínicos recomendavam clima de montanha e ar seco; ele anuía com cortesia e, quando a febre afrouxava, reaparecia no tampo conhecido. A boemia era campo de coleta, lugar de afinar o ouvido, de aparar inflexões, de receber a frase em flecha, de assentar a melodia na ordem certa sem declarar o esforço. O pedágio vinha depois: calor subindo, peito pesado, amigos pedindo trégua, o violão ganhando chumbo nos braços. Um futuro encurtado rondava a mesa sem apagar a alegria do instante; o corpo pedia cautela e a cabeça seguia conectada à cidade, cada tosse abrindo uma sílaba, cada gota escondida no pano confirmando o preço de cantar.
Nos cinemas da Cinelândia e nos auditórios do centro, nos anos 1930, a cidade aprendia a ouvir de perto: sessões ao vivo antes do filme, programas com orquestras, coros, calouros, plateias que terminavam o refrão antes da orquestra. As emissoras multiplicavam horários e patrocínios; discos de 78 rotações giravam em vitrolas domésticas; das casas de música da Rua do Ouvidor saíam partituras dobradas em quatro, prontas para repúblicas de estudantes, saletas de pensão, varandas de subúrbio. Desse hábito disciplinado de observar, Noel fez ofício: escolher a palavra precisa e pousá-la no ponto exato, guardar o riso que não humilha, deixar a tristeza sem adorno. “Gago apaixonado” brincava com o tropeço da fala sem ferir; “Último desejo” continha uma despedida fria e nítida, bisturi frio que separa sem alarde. Cantar, para ele, media a distância entre dois corpos e, às vezes, encurtava um mundo inteiro.
Outono de 1937. No quarto de Vila Isabel, o relógio de parede avança aos solavancos; os minutos chegam quebrados. As noites se estiram, a febre sobe devagar, e cada respiração é contada em séries curtas, até doze, pausa, outra vez. O lenço recolhe pontos ocres, dobrados com a mesma disciplina que afia o lápis. Receitas amassadas na gaveta, copo d’água morna na cadeira, o violão encostado ainda guardando o calor da pele. Amigos entram em turnos breves, dizem pouco, escutam, saem com passos medidos para não acordar a madeira do corredor. Sobre a mesa, rimas em espera e compassos interrompidos. Antes do amanhecer, depois de uma madrugada que não cede, o corpo recusa outra contagem. É 4 de maio de 1937. Vinte e seis anos.
A notícia se espalha por declive. O jornaleiro antecipa a manchete; as oficinas acendem cedo; os bondes passam com o ruído ligeiramente apagado e, por um instante, ninguém discute tarifa. Bares contêm a voz; vizinhos falam baixo junto às portas entreabertas. Nos cadernos, colunas de memória, datas alinhadas, relatos breves de mesas onde a canção tomou forma. Na sala, cadeiras encostadas à parede, flores simples, passos medidos para não acordar a madeira. O bairro muda a afinação por um dia inteiro. A sensação é de arco travado no ponto de brilho. O que está no papel atravessará as estações; o que faltou permanece suspenso, peso fino no ar.
O catálogo passa de duzentas e cinquenta peças em menos de uma década, e ainda hoje elas encontram passagem. Entram por janelas abertas, atravessam corredores, descem escadas, saem coladas à voz de quem volta do trabalho. Um refrão nasce no balcão e termina no portão da escola. A cidade reconhece sem consultar autor; há ali clareza de gesto, humor que não fere, delicadeza contida. De volta ao bar, o tampo guarda uma marca d’água que não seca; a lâmpada derrama amarelo ralo; lá fora, os aros riscam a pedra. Sobre a cadeira, violão em repouso. Nas cordas, sal que lembra o caminho. Papéis recolhidos, uma tosse curta, um mi que fecha a noite. O corpo ficou nos 26; a voz permanece, espalhada nos ladrilhos e nas bocas que cruzam as calçadas de Vila Isabel.