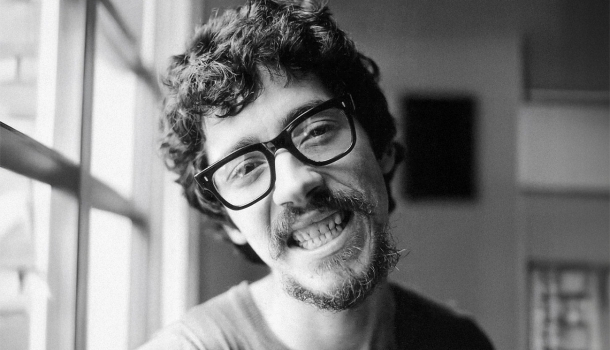Primeiro, o chiado do vinil numa sala pequena; a luz amarela vacila sobre móveis gastos enquanto, do lado de fora, rádios de pilha em AM preenchem botecos e feiras, televisores de válvula derramam novelas em preto e branco, compactos de quarenta e cinco rotações regulam os sábados, bailes de clube e programas de auditório ensaiam coros, e mesas de gabinete carimbam o que pode ser ouvido. É o final dos anos 1950 e a década seguinte vista de dentro: catálogos estrangeiros desembarcam nas lojas, a Jovem Guarda disputa espaço com serestas e os festivais transformam televisão em praça; as músicas atravessam portas como bilhetes, misturam feira e biblioteca, banca e eletricidade importada. Uma voz aprende a sorrir antes da sílaba, arredonda a frase, procura o ponto exato da respiração. No centro desse quadro, um nome se desenha com nitidez crescente: Raul Seixas.
Vinte e oito de junho de 1945, Salvador, Bahia: assim está escrito. A infância corre entre a biblioteca doméstica, as feiras do bairro e o papel áspero do cordel; Elvis, Little Richard e Jerry Lee Lewis chegam pelo rádio como cartas de um lugar distante. Com amigos, ele forma Os Panteras, transforma garagens e clubes em prova prática e, no fim dos anos 1960, atravessa para o Rio de Janeiro para ouvir o estúdio pelo lado de dentro: microfone testado com paciência, tomadas repetidas até a respiração achar lugar, arranjo aparado como quem lixa madeira. Com a banda, grava um LP homônimo que quase passa em silêncio fora dos bailes; do aprendizado ficam a disciplina de gravação, a atenção às pausas e ao corte preciso.
No início dos anos 1970, no eixo Rio-São Paulo, as salas de gravação trocam fitas sem descanso e Raul Seixas assume funções de produtor na CBS depois do disco com Os Panteras; por dentro aprende o ofício, o arranjo medido pelo relógio das rádios, a canção escrita sob encomenda e entregue no prazo, acompanha sessões de artistas veteranos e de estreantes, e descobre, ao mesmo tempo, que previsibilidade sufoca. Menos Raulzito, mais Raul, guarda a destreza e abandona a docilidade; quer a luz dos programas de auditório e a prova da calçada, porque a música, para existir inteira, precisa sobreviver nos dois endereços.
A chegada de Paulo Coelho afinou uma gramática que parecia procurar sua chave: versos discretos que abrem compartimentos, acumulam riso e ironia, recusam o panfleto embora guardem um leve perfume de assembleia. Entre as referências que ambos liam estava Aleister Crowley, escritor e ocultista britânico do início do século 20, divulgador de uma filosofia chamada Thelema cujo lema fala em vontade e responsabilidade. Dessa mistura nasceram símbolos, charadas e uma ideia de liberdade íntima que os dois chamaram de Sociedade Alternativa. O Estado não achou graça; vieram recados velados, perguntas insistentes e, em 1974, a temporada forçada nos Estados Unidos. O resultado mais duradouro, porém, foi de linguagem: a canção passou a acolher contradições sem se explicar, sonho e crítica dividindo o mesmo quarto. “Krig-ha, Bandolo!” saiu em 1973 como quem abre uma porta que já vinha sendo empurrada por dentro; “Ouro de tolo” lança ironia sobre promessas brilhantes, “Mosca na sopa” elege o incômodo como forma, “Metamorfose ambulante” condensa em poucas sílabas uma ética de movimento. Parece fácil quando se canta, mas aquela aparente simplicidade foi lapidada com cuidado: voz levemente áspera que admite falhas, dicção que não esconde o sotaque, arranjo que sabe conter e soltar com precisão, como se cada pausa tivesse sido escolhida à mão. Na primeira escuta, as faixas podiam soar rascunhadas; ao retorno, revelavam desenho preciso, linhas firmes guiando a emoção sem levantar a voz.
Nos anos seguintes, “Gita”, “Sociedade alternativa” e “Tente outra vez” alargaram o alcance e o repertório. O interesse por textos esotéricos conviveu com leituras de banca e pesquisas de biblioteca; aquele léxico de símbolos e paradoxos se amoldou ao rádio, ao auditório, à praça. Surgiu um narrador capaz de rir sem perder a pontaria, um compositor que conversava de perto e fazia pensar cantando. O país em aceleração encontrou nessas canções um lugar para dizer alto o que antes se cochichava. Não faltaram arranjos com o espetáculo, contratos, concessões, agendas crescentes; a diferença foi transformar tudo isso em forma sem arredondar as arestas.
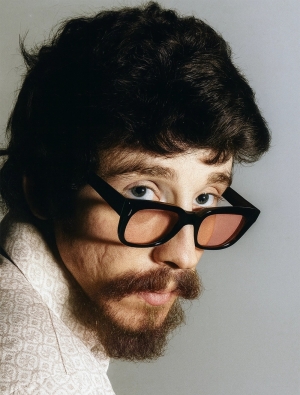
O palco era risco, sempre. Há registros de noites em que a banda parecia puxar a cidade inteira para dentro do compasso e outras em que o ar minguava; atrasos que alongavam a ansiedade, microfone que chegava tarde à boca, copos discretos nos bastidores, produtores contando minutos com o relógio colado ao peito. Vieram cancelamentos, entrevistas que se interrompiam no meio, notas de gravadora cobrando profissionalismo, e aquela pergunta que o repórter insiste em repetir porque sabe que dói. Entre uma temporada e outra surgiram internações por complicações do álcool, desmaios em palco, uma visível perda de peso; ainda assim ele tratava o tropeço como parte do repertório, como se falhar em público autorizasse um tipo raro de verdade. A vitrine que antes o celebrava recuou, e a agenda deslizou de grandes casas para auditórios menores e circuitos do interior; o artista passou a negociar com o próprio corpo cada centímetro de luz.
Chamar esse período de decadência resolve pouco. Os discos do fim dos anos 1970 e da década seguinte entregam lampejos e sombras: canções que brilham com força ao lado de faixas com costura exposta; um letrista teimosamente fiel à liberdade individual enquanto o organismo cobrava juros pesados. Ele não dourou a autodestruição; exibiu suas marcas com ironia e dureza, como quem presta contas sem pedir absolvição. Também soube rir da própria estátua. “Maluco beleza” não funcionou como máscara protetora; devolveu, em cacos, o retrato de um país que confunde irreverência com absolvição instantânea, carisma com salvação privada. A tragédia, aqui, não é pose: é a lenta notícia de que talento e desgaste podem morar na mesma casa e dividir a mesma mesa, noite após noite.
Em maio de 1989, o estúdio em São Paulo guardou sessões que pediam paciência e silêncio; era hora de alinhar as últimas canções, aparar arestas, deixar a voz ocupar o espaço que lhe cabia. O disco ficou pronto e saiu em 19 de agosto; por um instante, pareceu que a maré se aquietava. “A Panela do Diabo” nasceu enxuta, como se a própria música pedisse passagem, e o país ouviu. Dois dias depois, a madrugada não deu trégua. Na segunda-feira, 21 de agosto, em São Paulo, o cantor foi encontrado no apartamento do Edifício Aliança, na Rua Frei Caneca, 1100, com 44 anos. A versão oficial fala em parada cardíaca associada à pancreatite e complicações do diabetes, agravadas por anos de álcool; relatos mencionam a ausência de insulina na noite anterior. A notícia correu depressa e, com ela, a sensação de dança recolhida pela metade, um giro interrompido que ainda ecoa no chão.
No papel, é um desfecho; na escuta, parece anúncio. O corpo seguiu para Salvador, onde o velório atravessou a tarde e a multidão insistiu em cantar o que sabia de cor; houve empurra-empurra, lágrimas, um reflexo de festa que atravessou a dor como quem tenta consolar sem conseguir. O sepultamento no Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, selou a passagem do homem para aquilo que o país fabrica com rapidez e fervor: mito de rua e de vitrola, mito de camiseta e de citação. Nos dias seguintes, jornais e rádios repetiram a cronologia, mas o que restou não foi a cronologia, e sim a evidência de um rigor que a persona expansiva por vezes sombreava.
A partir dali, o repertório mudou de endereço sem perder calor. Na virada dos anos 1990, vieram novas edições e projetos de tributo; nos 2000, a circulação digital recolocou faixas no cotidiano; na década seguinte, playlists e vídeos multiplicaram audiências e comentários. O efeito mais visível não está apenas nos números, mas no hábito social que resiste: bar pequeno, festival grande, sarau improvisado, e alguém pede o mesmo verso como chave de contato. A canção volta à boca das pessoas como notícia que nunca envelhece.
O alcance se espalhou por fronteiras de gênero e geração. Rock de garagem e banda de baile, trio elétrico e roda de samba, MC que pesca um fragmento e o prende em outra batida, cantora de voz límpida que abre o show com “Metamorfose ambulante”, coral de escola que transforma “Gita” em lição de harmonia. As ideias, antes ensaiadas em auditórios de TV e fitas cassete, hoje atravessam rádios locais, serviços de streaming, karaokês de bairro. O grito que interrompe setlists ainda aparece de qualquer lado da sala, meio brincadeira, meio senha: toca Raul.
O impacto também é institucional e de memória. Há biografias, documentários, peças, exposições ocasionais; há estudos que tratam letra como pensamento popular e performance como radiografia do país. O mesmo compositor que leu de tudo e conversou com todos terminou adotado por públicos que raramente se encontram, do colecionador de vinil ao adolescente que descobre uma canção pelo celular. A ponte entre o local e o universal, que já estava no modo como unia feira e biblioteca, continua ativa sempre que um refrão devolve ao ouvinte uma pergunta simples e funda.
No Brasil, onde a respeitabilidade costuma exigir solenidade, ele preservou o direito de contrariar a moldura. Preferiu mudar de pele ao conforto da unanimidade; fez da incerteza uma prática, não um capricho. Dizer que se quer diferente, e dizer isso cantando, continua a ser um gesto de responsabilidade, a escolha diária de qual verdade carregar no bolso. Em tempos de certezas performáticas, essa teimosia pela dúvida soa necessária como canções que não passam, apenas mudam de prateleira na memória.
Quem volta aos registros de palco encontra um cronista atento. Entre apartes e silêncios calculados, lia a plateia como quem toma o pulso da cidade, desviava roteiro, cortava excesso e deixava o essencial à frente. Esse domínio vem de trabalho acumulado, de estúdio e estrada, de leitura e curiosidade, e explica por que o repertório continua disponível para novas vozes sem perder contorno. A obra, ao contrário do mito, não depende de piedade; depende de releitura.
Num salão qualquer, luz baixa e um copo esquecido sobre o amplificador; a banda procura o tom enquanto, noutro canto da cidade, um botão é pressionado e a nota de abertura corta o barulho do dia. As conversas baixam, a memória se recompõe, o corpo acha o caminho do refrão. Por quatro minutos, a pressa recua. Não há milagre; há canção. Não há santo; há um artista que escolheu o risco e pagou o preço, e por isso ficou. Ele vive onde a vida comum encosta na música, no gesto automático de quem aumenta o volume e segue. Permanece.