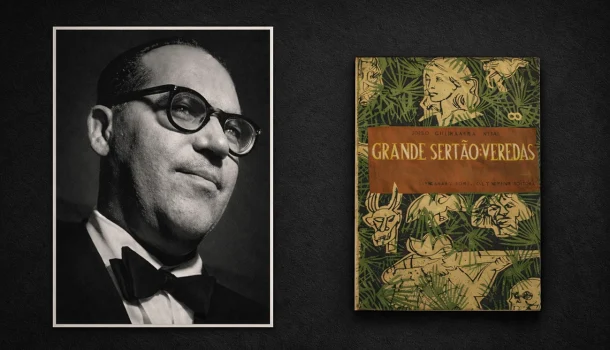No salão de bustos da Academia Brasileira de Letras falta um retrato. É o de Júlia Lopes de Almeida (1862 a 1934), cronista, romancista, dramaturga, abolicionista, entre as autoras mais lidas da Primeira República. No Rio que acendia luz elétrica e fazia tinir a sineta dos bondes, no rumor da Rua do Ouvidor e das tipografias, ela publicou sem intervalo, sustentou casa com a própria pena, abriu em Santa Teresa um endereço de reuniões e leituras. Entre 1896 e 1897, participou das articulações que gestaram a Academia; em 1897, quando o estatuto se fixou no molde masculino da Académie Française, a porta se fechou. A Cadeira 3 ficou com Filinto de Almeida, seu marido. Hoje, o arquivo pessoal de Júlia integra o acervo da própria casa; desde então, o vazio na parede tem a contraprova em papel.
Ela volta pelos livros. Publicado em 1901, “A Falência” encena o Rio de 1891, tempo do Encilhamento, quando crédito fácil e sociedades anônimas inflavam promessas e quebravam famílias. A cidade febril passa pela contabilidade do comércio, pelos gestos da etiqueta, pelo som de moedas e sinetas. Um negociante à beira do abismo; uma casa que range; uma mulher que calcula a margem de ação dentro de convenções que apertam. O romance observa a engrenagem econômica e moral da virada republicana com precisão de repórter e ouvido de dramaturga, e o faz sem tese, por cenas que permanecem. Reedições, estudos e leituras públicas recolocaram esse centro de gravidade; o nome de Júlia saiu do rodapé e voltou ao alto da página.
A genealogia do corte foi sendo reconstituída em camadas. De um lado, listas de fundadores e a versão oficial; de outro, a relação de nomes cogitados em 1896, na qual consta o nome de Júlia, raríssima presença feminina. O vaivém desses papéis expõe um padrão: ao espelhar a Académie Française (masculina à época), a instituição nascente, em 1897, fechou a porta a quem já estava na sala. Não é rumor; é política de exclusão. Está no que se registra e no que se omite.
Antes do veto, houve o lar. Na Santa Teresa do fim do século 19 e começo do 20, a casa de Júlia e do poeta Filinto de Almeida recebia gente e páginas. João do Rio a chamou, com precisão, de “Um lar de artistas”. Não era simples metáfora: ali se liam capítulos, servia-se café, tramava-se uma academia de letras. O cronista registrou a coreografia: sala verde, livros abertos, o rumor da cidade; e, ao fazê-lo, assentou um detalhe: a escrita de Júlia era trabalho, não ornamento. O testemunho está em “O momento literário” (1905), hoje um mapa de um circuito doméstico-intelectual.
O desenho final consolidou a exclusão. Ao consolidar-se em 1897, a Academia Brasileira de Letras adotou um molde que excluía mulheres; a consequência ficou cravada na Cadeira 3, onde figura como fundador Filinto de Almeida. O gesto cristaliza uma troca: a presença ativa de Júlia na gênese rende lugar, no quadro, ao marido, como se a história literária pudesse ser herdada por proximidade. Não há mistério nesse deslocamento; há carimbo, ata, assinatura. Papéis que preferem substituir nomes a encarar a evidência do trabalho.
Se a exclusão foi institucional, a obra sempre esteve à vista. “A Falência”, publicado em 1901 e ambientado no febril 1891 do Encilhamento, encena um país que negocia com a ruína. Um comerciante do café à beira do abismo. Uma casa que estala como móveis antigos. Uma mulher que mede, com precisão e risco, sua margem de ação. O romance sabe que o colapso financeiro é também moral: é o sistema todo, suas letras de câmbio e promessas mal redigidas, que empurra gente e papéis para o precipício. Ao mesmo tempo, a trama insiste no poder de ação feminino, calculado, sinuoso, real, num circuito que a cerceia por convenção e interesse. O livro não oferece tese; oferece cenas recém-impressas.
O caminho da tradução amplia esse alcance. Publicada em 2023, pela UCL Press e em acesso aberto, “The Bankruptcy” leva o romance a um circuito global sem desfigurar o Brasil da década de 1890: notas situam Rua do Ouvidor, mil-réis, apólices, casas comissárias; o glossário lembra que o Encilhamento (de 1889 a 1891) nasceu da euforia do crédito fácil e da multiplicação de sociedades anônimas sob as reformas de Rui Barbosa, então ministro da Fazenda (de 1889 a 1891). A atmosfera reaparece sem verniz: o chiado das tipografias, o trote e a sineta dos bondes, recibos a lápis correndo entre balcões e escritórios. Para quem chega de fora, o volume oferece chaves históricas sem desmontar a prosa; para o leitor brasileiro, devolve a paisagem com outra luz, com o Centro do Rio a pulsar entre a ficção e o arquivo. Em vez de remendar falhas do passado, a edição expõe o corte: recoloca Júlia em clubes de leitura, cursos universitários e bibliotecas e, ao fazê-lo, impõe à Academia Brasileira de Letras a pergunta incômoda que ficou na galeria.
Também houve movimento dentro de casa. Em 2010, um gesto concreto: o arquivo pessoal da escritora, com cartas, bilhetes, fotografias, dedicatórias e cadernos com margens riscadas a lápis, ingressou no acervo da Academia Brasileira de Letras, por doação do neto. O ato é póstumo e simbólico, mas não é vazio. Quando a instituição incorpora os papéis de quem excluiu, reconhece que a versão oficial cabia mal no quadro. Desde então, cada consulta ao acervo reabre a disputa pelo enquadramento público. A história não está só nas atas; está também na textura do papel, na tinta que falhou, nas anotações à margem que sustentam escolhas de cena.
A cronologia da barreira é eloquente. Entre 1897 e 1977, nenhuma mulher atravessa a soleira da Academia Brasileira de Letras. Em 1930, a candidatura de Amélia Beviláqua testa o regulamento e ouve o óbvio não: estatuto e costume queriam homens. Em 1923, a casa ganha endereço definitivo, o Petit Trianon, e institucionaliza ritos de pertença (fardão, espada, colar, diploma) que, por décadas, não vestem corpos femininos. Só em 4 de agosto de 1977 o corredor abre: Rachel de Queiroz é eleita para a Cadeira 5 e, no salão de posse, o cerimonial reencena a história enquanto a fratura, finalmente, racha. O dado frio, 80 anos de espera, dispensa adjetivo: é a gramática de gênero da cultura letrada. A fenda vira passagem lenta; em 1980, entra Dinah Silveira de Queiroz; em 1985, Lygia Fagundes Telles; em 1989, Nélida Piñon, que, de 1996 a 1997, preside a instituição pela primeira vez na voz de uma mulher. O caso de Júlia ilumina a gênese; o de Rachel, a persistência; e essa linha do tempo, costurada a mármore, papel timbrado e imprensa, obriga a pergunta que toda casa de memória deveria se fazer periodicamente: quem, em nossos rituais, permanece do lado de fora?

Reconstruir Júlia pede arquivo, leitura e responsabilidade. Júlia Lopes de Almeida foi cronista, romancista, dramaturga, abolicionista; circulou nos jornais da capital, manteve casa em Santa Teresa como oficina literária e figura pública; foi perfilada por João do Rio em “O momento literário” (1905); participou das articulações entre 1896 e 1897 que levaram à fundação da Academia; teve o arquivo pessoal incorporado em 2010 ao acervo da própria casa. Não é vaga celebração: são papéis, cadernos, bilhetes, primeiras edições, correspondência. A obra prova a centralidade: em “A Falência” (1901), o Brasil do Encilhamento aparece por dentro do lar, do comércio, da etiqueta social; a política desce a escada da casa e se senta à mesa. É esse trânsito, entre rua e sala, entre redação e ficção, que explica a importância dela no seu tempo e agora.
Falta o gesto explícito: uma linha na parede do Petit Trianon, um verbete corrigido, um prêmio que leve seu nome. Não por indulgência, mas por acerto de inventário. O que os papéis já registram, participação nas articulações entre 1896 e 1897, arquivo incorporado em 2010, a obra cujo fulcro é “A Falência” (1901), precisa constar do cerimonial. Memória não é ornamento; é ato administrativo e frase pública.
Volta-se ao corredor dos fundadores: mármore frio, luz lateral, placas alinhadas; no alto, o brasão da Academia Brasileira de Letras. Falta um retrato. No cofre da casa, cartas, bilhetes e cadernos de Júlia, doados pelo neto em 2010, mudam o peso das salas. Desde 1897, muita coisa se moveu; em 1977, Rachel de Queiroz rompeu a soleira; hoje, a omissão tem data e arquivo. O país conhece o enredo, dinheiro e desejo no miolo; política e memória na borda. Resta escrever, no próprio corredor, o que já se lê nos livros: Júlia Lopes de Almeida esteve na origem. Nome por extenso, sem parênteses.