No início havia poeira. Não a poeira simbólica das epopeias, nem a poeira mitológica dos desertos do Oeste, mas uma poeira concreta, mineral, seca, a que se acumula sobre livros que ninguém toca, em prateleiras erradas. Era uma poeira sem passado, sem memória, sem interesse. Uma poeira funcionária. E ali, entre volumes de capa dura e silêncio institucional, repousava um nome que não prometia nada. John Williams. Um nome que podia ser qualquer coisa: um funcionário do correio, um trompetista medíocre, um contador, um fantasma. Ou, quem sabe, um autor. Mas autor de quê? O esquecimento havia feito seu trabalho com esmero. Ele não estava apenas fora do presente, estava fora da história. Talvez nunca tivesse entrado. Talvez nem ele soubesse o que havia deixado para trás.
John Edward Williams escrevia como quem afunda em areia. Com resignação. Sem espetáculo. Ele não queria vencer ninguém, nem competir, nem provocar, muito menos vender. Nascido em 1922, no Texas rural, entre fazendas de algodão e igrejas pequenas demais para esconder qualquer mistério, cresceu durante a Depressão com pouco dinheiro e quase nenhum horizonte. Alistou-se na Força Aérea, combateu na Segunda Guerra na Birmânia, experiência que jamais usaria como tema, mas que talvez explique a contenção seca, quase militar, da sua prosa. Voltando da guerra, mergulhou nos livros como quem entra num rio escuro. Estudou em Denver, depois Iowa, onde passou a ensinar. Formou-se dentro da universidade e não saiu mais. Viu de longe o barulho da Geração Beat, os excessos de Mailer, a febre moral de Bellow. Nunca foi celebrado nem rejeitado. Passou ao lado. Um autor doméstico, professoral, disciplinado. Há um traço nos seus livros, e talvez também no seu rosto, nas poucas fotos sem expressão, que não é desilusão, nem modéstia, nem recusa. É outra coisa. Uma aceitação seca da própria invisibilidade. Escrevia porque havia algo ali que precisava ser dito com precisão. E só. Não parecia esperar leitores. E, por muito tempo, não os teve.
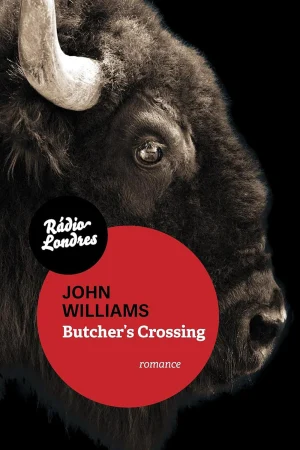
Quando “Stoner” saiu, em 1965, pela Viking Press, entrou no mundo como quem entra numa sala onde ninguém olha. A tiragem era modesta, a aposta editorial, menor ainda. A editora o publicou quase por inércia. O autor já havia lançado por ela o brutal “Butcher’s Crossing”, e não era difícil de lidar, nem exigente, nem custoso. Era um homem da casa, e “Stoner” parecia, à primeira vista, um romance sereno sobre a vida acadêmica. Ninguém esperava comoção, e ninguém se comoveu. Passou despercebido entre os lançamentos de peso daquele ano: “Herzog”, de Bellow, “A Sangue Frio”, de Capote. E o país, naquele momento, tinha urgência: guerra do Vietnã, protestos, direitos civis, Malcolm X assassinado. Um romance seco sobre um professor de literatura agrícola não podia competir com as bombas nem com as manchetes. E o livro, de fato, não se ajudava. Casamento falido, filha alheia, uma guerra que passa ao fundo, e nenhum gesto redentor. Não havia antagonistas claros, nem crescimento pessoal, nem iluminação espiritual. O protagonista não se cura, não triunfa, não compreende o mundo. Ele apenas continua, como se isso já fosse um feito. O livro não pedia desculpas por não ter enredo. Tinha estrutura, tinha pulsação, mas não arco. E era essa ausência de clímax que causava espanto em quem, por acidente, o lia.
Décadas depois, o livro ressurgiria como um segredo murmurado entre livreiros europeus. Primeiro na França, depois na Holanda, na Itália, como quem encontra um evangelho sem apóstolos num porão esquecido, coberto por poeira que ninguém se atreveu a soprar. A palavra se espalhou baixa, como febre leve. Leitores escreviam “você precisa ler ‘Stoner’” com a urgência clandestina de quem compartilha um mapa de ruínas ou um bilhete suicida sem data. E então, como sempre acontece quando a literatura retorna pelo subterrâneo, surgiram as hipérboles: o “grande romance americano”, a “obra-prima invisível”, o “Faulkner sem tragédia”. Mas o impacto não ficou preso ao Velho Mundo. Nos Estados Unidos, o livro foi redescoberto como quem reconhece um rosto que sempre esteve lá, entre as prateleiras, mas nunca tinha nome. Ganhou status de clássico cult. Na Inglaterra, veio com prefácios e reverências. No Brasil, chegou tarde e exato, publicado pela pequena e extinta Rádio Londres, num volume discreto, com tradução debatida, mas inegável. Foi a porta por onde John Williams finalmente entrou. E bastou. Nas redes, em sebos de bairro, em resenhas sem algoritmo, “Stoner” passou a circular como um segredo partilhado entre leitores que já não esperam salvação. Um livro que não se recomenda, se oferece. Como um espelho que corta. Como um romance que não quer comover. Ele humilha. E é por isso, talvez, que se torna inesquecível.
Porque há algo de obsceno em se ver ali. Não na história, que é mínima, mas no modo como ela se recusa a nos distrair. É como se alguém descrevesse a sua vida com a precisão que você nunca teve coragem de usar. Sem metáforas de consolo, sem cortes de cena. Apenas a linha reta do tempo, com seus dias repetidos, suas derrotas pequenas demais para o drama, grandes demais para o esquecimento. A narrativa não pede sua atenção, ela te captura por inércia. O amor não ilumina, o fracasso não ensina, o tempo não cura. Tudo apenas persiste, com a dignidade silenciosa de quem não espera aplauso. E ao final, o espanto: William Stoner atravessa o século 20 como se não tivesse existido. Mas quem falhou, no fim, foi o século. Porque nenhum de seus ruídos conseguiu calar esse homem quieto.
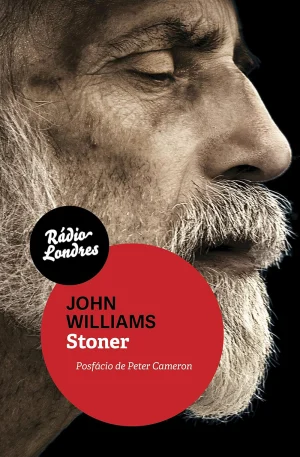
Williams publicou quatro romances. O primeiro, “Nothing But the Night”, que ele próprio renegaria, é uma espécie de rascunho juvenil, hesitante, mais sombra do que obra. Depois veio “Butcher’s Crossing”, em 1960, um western existencialista, quase bíblico, em que um jovem idealista de Harvard abandona o conforto acadêmico para buscar sentido na carnificina da caça a búfalos nas planícies do Kansas. É um livro de excessos: frio excruciante, sangue lento, delírio mineral. Mas não oferece redenção. O deserto não purifica, apenas tritura. Will Andrews retorna menor do que partiu, corroído pela experiência, devorado pelo que viu e pelo que teve de se tornar. Um andarilho de nada, guiado pela filosofia de Emerson e esmagado pelo peso de um mundo que não responde. Décadas depois, o romance foi adaptado ao cinema. Dirigido por Gabe Polsky, com Nicolas Cage no papel de Miller, o caçador implacável, o filme manteve o tom áspero do livro, e, como o original, também não pediu aplauso. Foi lançado discretamente, como se soubesse que havia sido feito para quem já carrega poeira nos olhos.
Com “Augustus”, de 1972, Williams ousa outra forma. Um romance epistolar histórico, onde o poder aparece em sua versão mais íntima: cartas, confissões, silêncios. O imperador romano surge como homem dividido, solitário, desesperado por sentido num império que o asfixia. Ganhou o National Book Award, mas continuou sendo pouco lido. A crítica americana não sabia o que fazer com ele. Porque John Williams escrevia livros sérios, mas sem a pompa esperada. Livros clássicos, mas sem nostalgia. Livros trágicos, mas sem violino.
Talvez o desconforto venha daí. Williams escrevia como quem não assinava pacto com nada, nem com a promessa americana de superação, nem com o conforto das quedas que ensinam. Seus livros não iluminam o fim do túnel, eles apagam o túnel. O que dilacera em “Stoner” é o que não acontece, o que se recusa. Em “Butcher’s Crossing”, não há caminho de volta: só carne, neve, silêncio e um rosto que desaprende a ser rosto. E em “Augustus”, quando o poder finalmente fala, é só para confessar que não sabe mais quem é. Nada é resolvido. Nada se transforma. Os romances de Williams não mapeiam desistências, eles as escavam. Mostram o fundo. E depois o que vem depois do fundo. E depois o que sobra.
Não é niilismo. É pior. É seguir adiante mesmo quando já se sabe que nada vai mudar. É continuar. Continuar a ir à aula, a preparar as anotações, a retornar para casa como quem retorna ao mesmo dia. Continuar a amar uma coisa que não responde. Seus personagens não desafiam o mundo, apenas se encolhem o suficiente para caber dentro dele. E talvez seja isso que assuste tanto: não a queda, mas a permanência. Eles não quebram. Eles duram. Um homem traído, esquecido, silenciado, ainda assim volta para a biblioteca. Ainda assim lê. Ainda assim acredita, sem palavras, naquilo que ninguém mais nota: que talvez exista alguma verdade numa frase bem escrita. Não uma salvação. Só uma verdade. E, para alguns, isso basta.
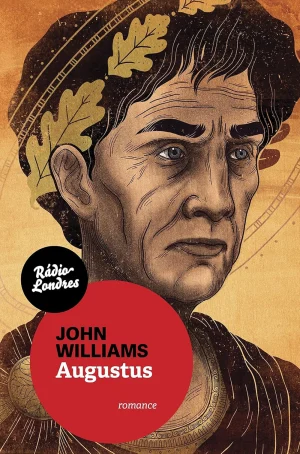
Dizem que foi negligenciado. Que morreu à margem. Que o sistema o ignorou, como ignora tudo que não grita. Talvez. Mas há algo na trajetória de John Williams que dificulta o lamento. Ele parecia não querer plateia. Passou décadas em salas de aula, apagando quadros, corrigindo páginas com severidade gentil, como se estivesse cuidando de uma coisa que ninguém mais via. Lia os clássicos como quem reza sem fé, mas com método. Fumava demais. Falava pouco. Dizia, com uma ironia sem som, que escritores escrevem porque não conseguem não escrever. Nenhuma pose. Nenhuma busca por cicatriz. Não escrevia por missão, nem por ferida, nem por brilho. Escrevia como quem cumpre um silêncio. Como quem sabe que estilo é rigor. Que ofício é ofício. E que talvez, no fim, a única ética seja a frase certa no lugar certo.
Hoje, quando “Stoner” aparece em listas de romances esquecidos ou subestimados, há algo de constrangedor na celebração. Como se estivéssemos aplaudindo um homem que, por pudor, teria saído da sala antes do fim da homenagem. Talvez tenhamos falhado com ele. Talvez com nós mesmos. Ou talvez não. Talvez ele soubesse que a posteridade é só uma forma mais demorada de silêncio. E que a única coisa que sobrevive, quando sobrevive, é uma frase precisa, colocada no lugar exato, com a humildade de quem não espera eco. As dele estão lá. Secas. Lentas. Impossíveis de apagar. Frases que não seduzem. Só permanecem.
E então resta isso: dizer seu nome em voz baixa. Não como quem presta culto a um gênio incompreendido. Mas como quem pede perdão por não ter ouvido a tempo. Como quem fala com alguém que já partiu, e que, mesmo assim, permanece na sala. John Edward Williams. Um homem que não escreveu para ser lido. Um homem que não escreveu para ser salvo. Um homem que apenas sentou, dia após dia, e colocou uma palavra depois da outra, como quem varre um chão que ninguém pisa mais. E agora sabemos: isso era tudo. E tudo ainda é pouco.







