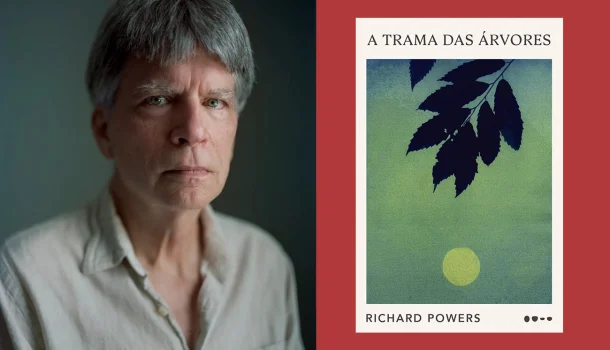Richard Powers não perdoa. Seu romance recusa atalhos, como quem não teme o escuro dos labirintos. “A Trama das Árvores” (Todavia, 648 páginas, tradução de Carol Bensimon) se ergue assim, imensa e silenciosa, uma floresta em que a esperança rareia. As vidas que ele entrelaça — Patricia, Adam, Douglas, Ray, Dorothy, Neelay, Mimi, Olivia — são galhos feridos, às vezes mutilados, que insistem em crescer, mesmo sob o peso de um céu que parece cada vez mais baixo. E não há consolação fácil no modo como esses destinos se buscam, colidem, afastam-se de novo, sempre em torno das árvores: presença que jamais é cenário, sempre abismo, sempre espelho.
É possível que tudo nasça de uma semente quase ínfima. Um pai, de costas curvadas pela fadiga, planta nogueiras para um filho que talvez jamais compreenda. Uma cientista, Patricia Westerford, se isola na escuta do que não pode ser dito em voz humana — e nisso encontra a mais dura das dignidades. Neelay Mehta, programador, traça sua utopia digital tentando recriar em códigos o delírio orgânico das florestas. E há ainda Douglas, sobrevivente de traumas invisíveis, buscando na seiva dos troncos um sentido que lhe escapa, como água pelas mãos. Nenhuma dessas vidas se salva de si mesma, nem das rachaduras abertas pela passagem do tempo, mas todas ardem em um desejo surdo de permanência.
Não há romance naturalista aqui. O que Powers opera, com paciência de entomólogo, é a dissecação do vínculo impossível entre o humano e o mundo vegetal. Nada de retórica fácil: as árvores são presença inquietante, quase hostil, longe de qualquer docilidade. Às vezes, parecem observar, julgar, tolerar os humanos como quem tolera um rumor incômodo. De certo modo, há neles uma beleza indiferente, que resiste mesmo ao toque da destruição — e é essa beleza que arrasta os personagens para um limite onde já não se distinguem culpa, ternura, temor.

A estrutura do romance — tão fragmentada, tão orgânica — mimetiza o entrelaçamento das raízes sob o solo. Powers arrisca, erra, acerta, repete; suas frases oscilam entre o lirismo contido e a prosa abrupta, como se tentasse acompanhar o ritmo desordenado do mundo natural. O resultado é uma narrativa que cresce em todas as direções, sem pedir licença, derrubando muros de gênero literário. E quando a narrativa ameaça se perder, uma frase breve — quase suspiro — recoloca tudo em suspensão. “Mas não foi isso.” Só quem já teve a experiência do luto ou da perda entende esse tipo de recuo.
O tom de elegia permeia todo o livro. “A Trama das Árvores” foi publicado em 2018, quando as certezas de sobrevivência coletiva já ruíam no horizonte. O desmatamento, a extinção, o colapso ambiental — tudo irrompe de maneira quase brutal, sem panfletarismo, mas também sem omissão. A cada árvore tombada, Powers convoca uma memória: o avô que se foi, a infância que apodreceu, o amor que não floresceu. O leitor sente o cheiro de madeira cortada, ouve o ranger dos galhos, intui a devastação do que não volta. Talvez resida aí o verdadeiro sofrimento: saber que o desaparecimento das árvores é também o nosso.
Porém, não há concessão ao niilismo. O romance pulsa de pequenas teimosias. Ray e Dorothy, em sua solidão espessa, insistem em plantar uma nogueira — gesto quase ridículo, diante do fim iminente. Olivia, após sobreviver a um acidente, renasce no ativismo desesperado, fazendo da própria vulnerabilidade uma espécie de raiz exposta. Não há heroísmo. Há só resistência, frágil, que muitas vezes falha. Powers, sensível a essa condição trágica, não romantiza a derrota. O que emerge é uma ética do fracasso: a coragem de persistir, mesmo sabendo que, no final, quase nada será salvo.
Há páginas em que a linguagem se dissolve, rarefeita, como a luz filtrada pelo dossel de uma floresta antiga. Powers descreve os anéis de crescimento das árvores, e por instantes se tem a impressão de que o tempo humano poderia, quem sabe, também ser lido assim — camada após camada de alegria e ferida, ano após ano, até que tudo se faça húmus, matéria nova. Mas a linguagem tropeça. Às vezes, falta ar. Isso — eu acho — já é suficiente.
Seria possível criticar o excesso de ambição do romance, sua tendência a querer abraçar o mundo, suas personagens às vezes próximas do arquétipo. Mas a imperfeição é, aqui, condição vital. Florestas perfeitas não existem; há sempre o risco, a praga, o fogo, a queda. E talvez nenhum outro romance contemporâneo tenha conseguido, como Powers, extrair beleza do fracasso, fazer do erro um convite à escuta.
A trama se desfaz — como acontece com toda floresta velha. Os personagens se dispersam. As árvores, muitas delas, sucumbem. Resta um rumor, uma ausência. E, sob a terra, germina algo que ainda não tem nome. Diante disso, só resta aceitar o peso da impermanência. Talvez o sentido da existência esteja, afinal, em abraçar esse rumor antigo, esse chamado surdo das raízes, antes que tudo vire silêncio de vez.