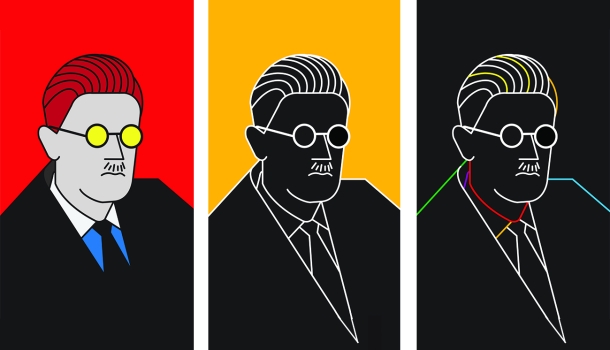Somos constantemente desafiados a encontrar motivos que ratifiquem nossa crença na vida, ignorando o abatimento que embrutece e paralisa; combatendo a melancolia, que na dose imprópria, deixa o céu nebuloso da hígida reflexão e avança ao pântano da dúvida imanente e ubíqua, acerca de qualquer um e em qualquer parte; dobrando o que nos tenta fazer renunciar ao sonho de dias menos sombrios e gente mais risonha, o ideal mais elementar e mais cheio de ardis que se pode querer. Num só movimento, viver torna-se uma cornucópia de luzes e sombras que se atraem e se repelem, e se equivalem; subidas e descidas bruscas, repentinas, nauseantes, como num brinquedo macabro; entradas e saídas de labirintos claustrofóbicos que ficam tanto mais estreitos na proporção em que nos deparamos com nossas humanas limitações, agudizando a impressão de que no espírito do homem há mesmo lugar para todos os sonhos, mas nele encrustam-se igualmente muitas das côdeas que enxovalham o mundo para muito além da vã filosofia deste plano tão rasteiro.
Nascemos mergulhados em traumas muito particulares, guardados no mais secreto de cada um, sufocados por incertezas de toda ordem, dilemas existenciais cujo peso só nós mesmos podemos sentir, e isso já seria o bastante para tachar o homo sapiens como a mais desgraçada das espécies. Urge ao infeliz do gênero humano que o avalizem quanto ao que ele é ou deixa de ser, e essa é outra catástrofe irremediável do ser gente. As grandes transformações sociais começam dentro do indivíduo, daí não ser viável, à luz do pensamento de gênios como Arthur Schopenhauer (1788-1860) uma pretensa salvação do homem. No clássico “O Mundo como Vontade e Representação”, publicado em 1818, o filósofo, um dos pensadores que se celebrizaram pelo pessimismo, ao lado do dinamarquês Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855) e do também alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900) —, prega que a verdade está sempre cercada da ideia do que julgamos como verdadeiro, e, em assim sendo, somos incapazes de discernir o certo do errado, o que, por turno, interdita ao ser humano a felicidade. Na mais rosicler das hipóteses, podemos arranjar nossa própria redenção, mediante a confissão de nossos desvios e, claro, o arrependimento sincero que coroa a jornada.
Se para Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche, a trindade profana do niilismo que salva e condena o homo sapiens sapiens, Deus depende das experiências do homem para viver em seu meio, para o bem ou para o mal, o holandês Baruch de Spinoza (1632-1977) defendia que a natureza de divindade de um ente capaz de reger todos os outros residia exatamente no seu caráter de poder se imiscuir a tudo, afinal, todos os seres e mesmo todas as coisas têm seu lado luminoso, celestial, e sua porção sombria, que nunca é dada ao acaso e existe como se obedecendo a uma determinação do próprio Altíssimo. Para muitos estudiosos contemporâneos que se detêm sobre a produção de Spinoza, é dificílimo entender por que Deus, que tudo sabe, que vê todas as coisas que se acontecem desde o princípio dos tempos, inclusive as que ainda nem saíram do coração do homem, molda uma criatura à sua semelhança e imagem, mas uma criatura imperfeita, que peca, que rouba, que mata e, não satisfeito — malgrado saiba que o homem é fraco e que suas debilidades levam-no a ser cruel —, o pune por suas faltas, quando, Nome sobre todo nome, deveria interferir e apartar-lhe da alma o ímpeto bestial. Será por isso que males como pandemias grassam sobre a Terra de tempos em tempos?
Como não há morbo que consiga prolongar-se ad aeternum, o homem cria beleza, mesmo caminhando sobre a morte. Nos cinco títulos da lista que compusemos, percebe-se uma medida do espírito de sábios de antanho, bem como a necessidade vital de pegar pelos chifres o destino e a atávica sanha de vencer a miséria, de dar cabo da submissão de que se nutre a injustiça e proclamar-se, enfim, livre. Último volume da trilogia sobre um profeta nada convencional, em “A Morte de Jesus”, o sul-africano J.M. Coetzee denuncia suas frustrações e confessa suas esperanças no que pode vir a ser uma outra civilização, partilhando da descrença do leitor. Coetzee, Nobel de Literatura em 2003, abre um enorme panorama, multicolorido e cinzento, sobre o destino da humanidade, perdida desde sempre nas ilusões de redenção que não cansa de alimentar. Já no quase inclassificável “Morte em suas Mãos”, Ottessa Moshfegh recria uma modalidade literária pela qual o público nunca se desinteressa, talvez aplicando à pena elementos que remetem a sua origem plural. Filha de mãe croata e pai iraniano, Moshfegh, nascida em Boston, renova o fôlego da narrativa policial, ao passo que também deixa clara sua vontade de, uma vez mais, sacar do desencanto e da inadequação que já se constituem uma marca — e, em muitos casos, um estigma — de seus textos. “A Morte de Jesus”, “Morte em suas Mãos” e mais três livros, elencados a partir do ano de publicação (da mais recente para a mais antiga, e em ordem alfabética quando de um empate), confirmam nossa vocação para a infelicidade e o bizarro da vida, capturando a atenção do mercado editorial brasileiro e de quem, com a licença do trocadilho, não o deixa perecer.
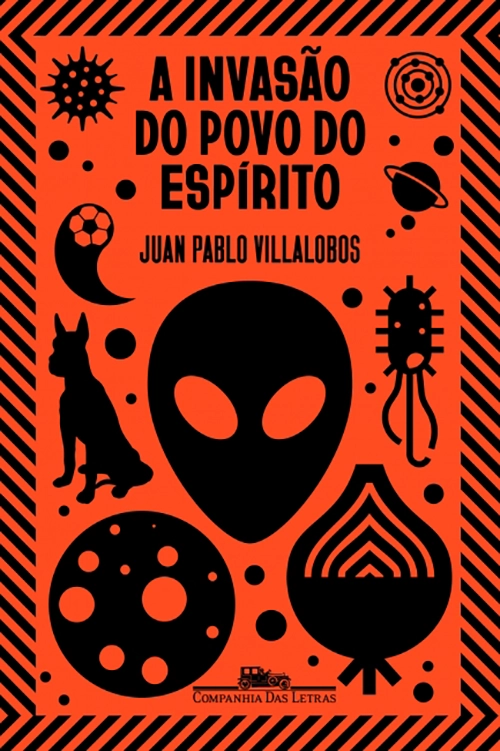
O mexicano Juan Pablo Villalobos continua a divertir o leitor enquanto prepara golpes mais ousados. “A Invasão do Povo do Espírito” lembra alguma trama de ficção científica que logo resta sufocada em algum vão da memória; entretanto, na proporção em que a narrativa avança, Villalobos encarrega-se de juntar novos componentes, a exemplo do misticismo um tanto caricato que irriga boa parte do livro e personagens entre o sonho e o burlesco, como Gastón, o protagonista; seu amigo Max e o filho deste, Pol; e Gato, o cachorro de Gastón. A maneira como o escritor se debruça sobre os tópicos ora banais, ora delicados que os cerca, dando voz a um narrador sem medo de polêmica, lembra Machado de Assis (1839-1908) com seu Brás Cubas que volta dos mortos para esclarecer algumas questões que não o deixaram de afligir, contando com os olhos e os ouvidos atentos da plateia.

Vesta Gul, uma solitária viúva de 72 anos, inquieta-se com uma descoberta sinistra. Alguém deixara próximo a sua cabana um bilhete em que consta que uma tal Magda fora vítima de um assassinato cruel, mas o cadáver não aparece. A velha remói as lembranças de Walter, o finado marido, esforçando-se agora para não se deixar absorver por esse evento infeliz, apesar de saber que sua rotina outrora monótona está com os dias contados. Em “Morte em Suas Mãos”, Moshfegh repisa expedientes com que o leitor já está habituado em sua escrita, aproveitando para pontuar o whodunit da história com abordagens inauditas e mesmo e perturbadoras, colocando na boca de Vesta comentários mordazes no que toca a amor, desilusão, ressentimento, as fronteiras e as dores da liberdade e a arte, a única capaz de salvar o homem de si próprio.

O lugar-comum de que alguns livros nascem clássicos aplica-se à perfeição a “Stella Maris”, o 12º — e, lamentavelmente, derradeiro — romance de Cormac McCarthy (1933-2023). O americano, frequentador costumeiro do Santa Fé Institute, passou seus últimos momentos rodeado dos outros “intelectuais rebeldes” da confraria ouvindo e elaborando teses sobre o fim e o reinício do universo, enquanto não aguardava por mais ideia nenhuma, quiçá pressentindo que aproximava-se a sua vez de juntar-se aos astros. McCarthy, que em seu ofício não era adepto da pontuação como a conhecemos, nisso lembrando Nelson Rodrigues (1912-1980) — ou sua influência mais direta, James Joyce (1882-1941) —, encerra uma carreira de sessenta anos de bons serviços prestados à arte com um imenso ponto de exclamação, como era de seu feitio. Encabeçado por Alicia, a primeira protagonista mulher desde “Nas Trevas Exteriores” (1968), “Stella Maris” propõe um salto sem rede no vazio da solidão e da loucura, sem que necessariamente dependam uma da outra.
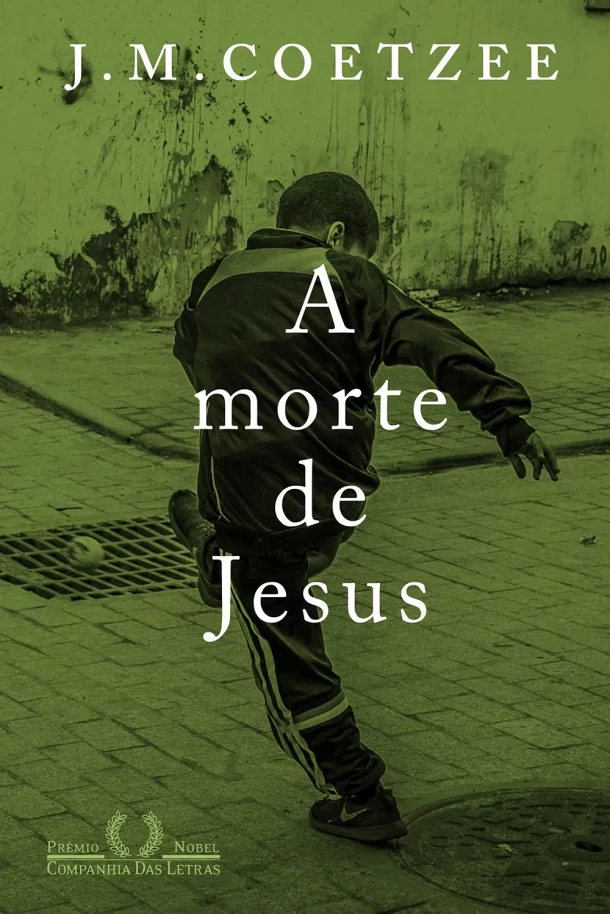
A decisão de Coetzee por aludir a Jesus nos títulos de três de seus livros confunde, mas acaba levando a uma explicação plausível. “A Morte de Jesus”, último volume da trilogia sobre um profeta nada convencional, serve de válvula de escape para que o sul-africano Coetzee denuncie frustrações e confesse esperanças no que pode vir a ser uma outra civilização, opiniões furiosas e análises plenas de método com que o leitor identifica-se a despeito de preferências ideológicas, formação ancorada nesse ou naquele ponto de vista e, por óbvio, religião. O Nobel de Literatura em 2003, abre um enorme panorama, multicolorido e cinzento, sobre o destino da humanidade, perdida desde sempre nas ilusões de redenção com que não se cansa de sonhar, reunindo essas sensações diáfanas, abstratas, num todo coeso e humano, demasiado humano, conduzido por David, um menino atormentado pelo desejo insano que o atira à tragédia irremediável.
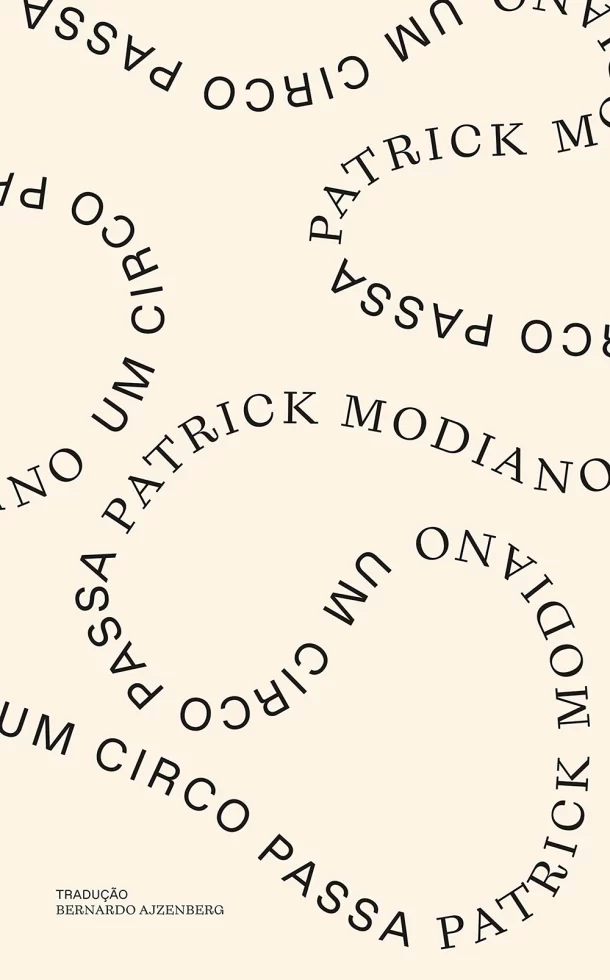
Outro ganhador do Nobel, em 2014, o francês Patrick Modiano até surpreende com um conto de mistério com claro pendor para o suspense mais refinado. Traduzido pelo escritor Bernardo Ajzenberg, a quem também coube o posfácio, “Um Circo Passa” é publicado em língua portuguesa pela primeira vez desde o lançamento, três décadas atrás, e conta a vida de Jean, um garoto de dezoito anos sem meio de subsistência definido que pode ser encontrado num apartamento à beira do Sena, sem os pais, que deixaram a França no que parece ser uma demonstração do mais desabrido instinto de sobrevivência. Em plena marcha, a barbárie da ocupação de Paris pelas tropas de Hitler não demoraria a espalhar pânico, destruição e morte, gancho de que Modiano se vale para falar da negligência emocional dos pais de que ele próprio fora vítima, adicionando ao que relata uma fictícia e sedutora Gisèle, que agrava-lhe a sensação de alheamento do mundo e de si mesmo.