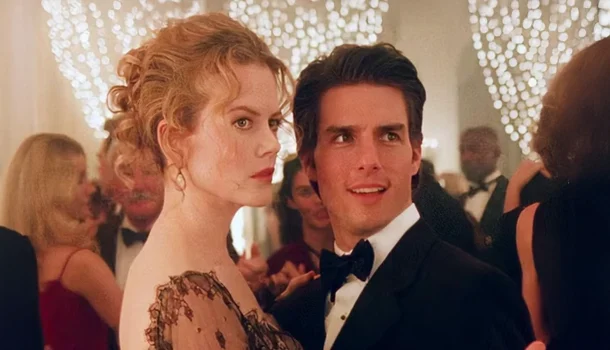Às vezes, o acaso decide mais do que gostaríamos. A sorte favorece alguns e ignora outros, lembrando-nos da linha tênue que separa vitória e derrota, sucesso e fracasso. Essa constante oscilação deixa claro que a vida não é apenas fruto de nossas atitudes, mas de forças invisíveis, que nos empurram para caminhos inesperados. A consciência da finitude torna o cenário ainda mais excruciante. Percebendo que tudo é temporário, que amores, conquistas e sonhos podem dissipar-se num instante, muita gente empenha-se, em vão, para controlar o destino, sufocando a necessidade de aceitar o que não pode ser de outro modo.
O destino urde uma teia complexa na qual o amor funciona como um norte, um ponto de referência e também um refúgio. Afetos, quando genuínos, oferecem estabilidade em meio ao caos, ensinando que mesmo no cenário mais injusto é possível ter pequenas vitórias. Aconteça o que acontecer, seres humanos nunca deixaremos de procurar razões para crer que, embora sem sentido, solitária, pobre, sórdida, brutal e curta, como diz Thomas Hobbes (1588-1579) em seu “Leviatã” (1651), a vida vale a pena, diferentemente do que lemos no jornal. Acreditar é a palavra mágica.
O existir apresenta-se como uma estranha combinação de talvezes e decertos, nessa ordem, rejeitando o comodismo da iniquidade. Balançamos entre a urgência um tanto doentia de aproveitar o que nos oferece o mundo, esquecendo que o planeta também tem limites. A degradação do ambiente é a consequência mais perversa de apostas socioeconômicas erradas. O uso desmedido dos recursos naturais é uma das muitas faces da injustiça social, atirando os mais pobres aos efeitos prolongados de secas desérticas, tempestades diluvianas e poluição sem freio. O avanço civilizacional é e sempre foi um paradoxo.
Na lista a seguir, elencamos uma dezena de filmes do catálogo da Netflix que, apesar do enredo vesano, até meio confuso, levam-nos a conclusões tão estarrecedoras quanto necessárias. Lamentavelmente, a ficção chega à tela baseando-se no que a realidade já constata, dando azo a um ciclo medonho, com previsões nada animadoras. É o caso de “Não Olhe para Cima” (2021), dirigido por Adam McKay, sobre um enorme perigo que vem do espaço, ou “Okja” (2017), do sul-coreano Bong Joon-ho, um saboroso libelo contra o consumismo. Negacionismo e adoração ao lucro não combinam com progresso. Ninguém pode ganhar se tantos perdem cada vez mais.
 Scott Yamano / Netflix
Scott Yamano / NetflixO esporte é uma metáfora perfeita para se discorrer a respeito da finitude, primeiro da glória, depois da própria natureza humana. Em “Arremessando Alto”, Jeremiah Zagar une esses dois elos, o do jogador consciencioso, sabedor de suas imperfeições, mas que já não pode mais fazer nada por sua vida no limite das quatro linhas porque seu tempo passou. Essas quatro linhas, são, no caso, as que definem as dimensões da quadra de basquete, que disputa com o futebol americano e o beisebol a preferência do torcedor nos Estados Unidos; esse jogador, ou melhor, ex-jogador, Stanley Sugarman, que usara o talento e a paciência que foi exercitando ao longo dos anos entre um garrafão e outro para revelar ases da bola como ele fora. Sugarman ganha de Rex Merrick, o cartola do Philadelphia 76ers interpretado por Robert Duvall, a grande chance de sua vida: depois de anos na ponte aérea, morando em hotéis — hotéis cinco estrelas, mas hotéis —, perdendo os aniversários da filha, personagem de Jordan Elizabeth Hull, desgastando o casamento com Teresa, a T, de Queen Latifah, o olheiro, talvez a atuação mais convincente de Adam Sandler, vai se tornar o técnico da equipe. Uma reviravolta, no entanto, faz com que seus planos escorreram por entre seus dedos instáveis devido a um acidente fora de quadra do qual nunca se recuperou por inteiro e ele volte a ter de rodar o mundo à procura de titãs da bola prontos a serem mostrados às plateias de todo o globo. O carisma de Hernangómez e Sandler, nessa ordem, ambos apaixonados por basquete cada qual vibrando no seu próprio diapasão, mas coesos e absolutamente convictos do que estão fazendo no filme, é o que garante a excelente performance de “Arremessando Alto”, um dos melhores filmes de esporte da última safra.
 Niko Tavernise / Netflix
Niko Tavernise / NetflixO fim está próximo e ele vem do alto. Por trás de grandes sucessos do cinema, todos dotados de algum grau de cinismo e descrédito na humanidade, em “Não Olhe para Cima” Adam McKay apresenta a sua versão para o maior medo da humanidade — e grande alívio para alguns —: a iminência da morte. Lançado em 2021, depois de quase dois anos de isolamento compulsório devido a uma pandemia que botou muita gente louca e matou outro tanto, McKay joga no caldeirão de seu filme suas impressões mais cômicas e dramáticas sobre as redes sociais como um foco perene de hostilidade e subversão de valores, o desenvolvimento tecnológico irrefreável, as reviravoltas do clima, a futilidade de pessoas que se pensam célebres, ou seja, a vida no século 21, mantendo cada assunto em sua gaveta correspondente e embaralhando-os quando lhe convém. Deliberadamente aloprado, em momento algum “Não Olhe para Cima” abre mão de manter o espectador na rédea curta, mostrando-lhe, até de modo didático, com o que importa se preocupar ou não.
 Tejinder Singh Khamkha / Netflix
Tejinder Singh Khamkha / NetflixBaseado no romance de Aravind Adiga, “O Tigre Branco” é uma obra que expõe as contradições sociais da Índia contemporânea. O filme acompanha Balram Halwai, um jovem pobre que sonha em ascender socialmente, encontrando na servidão a uma família rica a oportunidade de se aproximar do poder. A narrativa, construída em tom de confissão, revela a engenhosidade do protagonista e sua capacidade de manipular o sistema que o oprime. Ramin Bahrani filma a Índia com um olhar realista, explorando o contraste entre luxo e miséria, tradição e modernidade. Adarsh Gourav equilibra ingenuidade e ambição com doses de frieza. O longa discute temas universais, como desigualdade, corrupção e violência, sem recorrer ao didatismo. A crítica social se mistura a uma trama de suspense moral, em que a ascensão do herói se dá por meio de escolhas questionáveis. Ao narrar sua própria história, Balram desmonta a ilusão de meritocracia, apontando para a brutalidade das hierarquias sociais. O ritmo do filme é envolvente, ainda que algumas passagens se alonguem em excesso. Visualmente, a obra aposta em uma estética vibrante, reforçando o choque entre mundos opostos. O desfecho, ambíguo e provocador, desafia o espectador a refletir sobre o preço da liberdade em sociedades desiguais. “O Tigre Branco” se consolida como um retrato mordaz do capitalismo globalizado, onde vencer significa também trair, destruir e reinventar-se. É um filme incômodo, mas necessário, que mistura fábula moral e denúncia social.
 Divulgação / Netflix
Divulgação / NetflixDirigido por Charlie Kaufman, “Estou Pensando em Acabar com Tudo” é uma obra desconcertante que mistura drama psicológico, romance e horror existencial. O filme acompanha uma jovem que acompanha seu namorado em uma viagem para conhecer seus pais, mas a narrativa rapidamente se torna uma exploração de identidade, memória e percepção da realidade. Kaufman subverte expectativas, transformando uma história aparentemente banal em um mergulho perturbador na mente humana. Jesse Plemons e Jessie Buckley entregam performances intensas, com Buckley transmitindo vulnerabilidade e confusão emocional de maneira impressionante. O roteiro desafia a linearidade temporal, mesclando lembranças, fantasias e realidades alternativas, mantendo o espectador em constante tensão. A cinematografia de Łukasz Żal reforça o clima onírico e claustrofóbico, usando espaços vazios e cores frias para intensificar o desconforto. A trilha sonora, pontuada por canções melancólicas, contrasta com momentos de absurdo e surrealismo, ampliando o caráter psicológico da narrativa. A obra questiona temas como identidade, arrependimento e o medo da solidão, convidando à reflexão profunda. O ritmo lento e a estrutura fragmentada podem desafiar o público, mas reforçam o caráter experimental do filme. O desfecho ambíguo deixa uma sensação duradoura de inquietação e perplexidade. Kaufman cria um filme que é tanto um pesadelo psicológico quanto uma meditação filosófica sobre a existência humana.
 Michele K. Short / Netflix
Michele K. Short / Netflix“Por Lugares Incríveis” não tenta recriar a roda, e isso é um seu mérito. A narrativa cumpre um papel até educativo ao abordar temas o seu tanto indigestos a exemplo de depressão e suicídio, adquirindo profundidade ao explorar as razões que podem levar alguém a tomar uma decisão irremediável no calor de um momento particularmente ruim — e a juventude é plena dessas circunstâncias. Violet e Finch se conhecem exatamente numa situação com esse teor dramático. Depois da morte trágica da irmã, Violet está para se jogar de uma ponte, mas Finch a detém. Eles se aproximam, descobrem afinidades em comum e o enredo logo passa a transitar entre as outras pedras no caminho dos dois. Competente ao propor um exercício de autoconhecimento, para os personagens e, consequentemente, para o espectador, “Por Lugares Incríveis” atenta para a necessidade de se perceber as coisas miúdas que tornam a vida preciosa, sem julgamentos, que sempre maniqueístas, conduzem nosso olhar para um ou outro lado, sem nos deixar sentir as muitas nuances dos temas mais complexos da natureza humana.
 Divulgação / Netflix
Divulgação / NetflixEm “Atlantique”, Mati Diop, a primeira diretora negra de um filme agraciado com a Palma de Ouro em Cannes, singra em mar de almirante. São muitos os recursos de que Diop lança mão a fim de contar o romance impossível de Ada e Suleiman. Ao longo da narrativa, ela se vale de diversos recursos de linguagem, indo de sons fora de cena à ação sem enquadramento definido, o que dá à imagem uma dimensão própria, ora mais próxima, ora mais distante de quem assiste. Logo no começo, fica claro que Diop entende do riscado — é de sublime beleza a sequência do encontro do casal de protagonistas, enquanto um trem corre entre eles. A abordagem do ponto de vista do fantástico, do místico, tão presente nos relatos africanos, se faz presente de modo absolutamente legítimo, haja visto a história se passar no Senegal. Depois de uma série de negociações, os operários que erguem um prédio em Dakar — entre os quais Suleiman —, desaparecem no oceano e, mortos, tomam posse dos espíritos das namoradas a fim de se vingarem. A possessão é um fenômeno chocante, mas sob a ótica sensível de Diop, torna-se um momento de celebração pelo reencontro dos dois, o que até sugeriria um orgasmo, não fosse a gravidade da situação. A partir daí, homem e mulher, os dois amantes, tornados uma só carne e um único espírito, partem com tudo pra cima do dono da empreiteira, outro ponto alto da história.
 Divulgação / Netflix
Divulgação / Netflix“A Sun” começa de maneira brusca e, assim, o espectador já fica esperto quanto ao que pode esperar do drama do taiwanês Chung Mong-hong. Mas que ninguém se desestimule: o enredo é todo permeado por respiros cômicos — e eles são mesmo necessários. A pobreza, ainda que num país rico, é implacável, e ai daquele que pense que pode subverter o estabelecido. Contudo, seria tolo afirmar que o risco social é o responsável por fomentar a criminalidade; o fato é que a alma de todo homem tem sua face sombria — e cada um deve mantê-la sob controle. E controle — e, por extensão, autocontrole —, é uma ideia cara aos orientais. Um pai de família honrado não se prestaria a aturar os deslizes de caráter por parte de um filho, muito menos seus delitos. Ao tomar conhecimento da prisão de A-Ho, A-Wen exige que o caçula seja sentenciado com uma pena severa, o que revolta sua mulher, Qin, mãe do rapaz. A partir daí, o que se segue é a total desintegração do que até tão pouco tempo era um lar (e uma família). Ainda que haja uma ou outra tentativa pontual de contornar a questão, o casal, juntamente com o filho mais velho, pressentem que nada vai voltar ao ponto anterior à ruptura. A vergonha que todos sentem pelo destino de A-Ho, tornado ainda mais significativo numa sociedade que valoriza sobremaneira a austeridade da conduta social, o constrangimento, o remorso, tudo converge para que não consigam se encontrar outra vez. O sol pode até ser o que há de mais justo no mundo, mas só pode iluminar e emprestar seu calor a ambientes que se abram para ele. Do contrário, fica eternamente preso em meio à nuvem de ignomínia e pequenez que flutua sobre a natureza do homem desde sempre.
 Jae Hyuk Lee / Netflix
Jae Hyuk Lee / NetflixNuma engenhosa crítica à indústria de alimentos — e, por extensão, ao próprio capitalismo —, Bong Joon-ho apresenta ao público a história de Okja, uma espécie de simbiose de hipopótamo com porco que resultou num animal estranhíssimo, mas dócil e muito lucrativo. A criatura faz parte de um lote de 26 espécimes, que irão para diversas partes do mundo. Okja, uma fêmea, é destinada para a Coreia do Sul. Ao fim de algum tempo, os animais serão novamente reunidos num concurso, a fim de se saber quem dispensou o melhor tratamento ao bicho que lhe coube, eleito vencedor da competição. No entanto, vencido esse prazo, Mikha, tutora de Okja, se apegou muito a ela e não cogita interromper essa relação. “Okja” encampa um atilado libelo contra o consumismo, a degradação do meio ambiente e a ética relapsa no que concerne ao tratamento dos animais empregados como alimento, e, claro, as consequências de tamanho descaso e ganância na saúde das pessoas. O filme faz pensar sobre até que ponto é válido se permitir capturar pelas armadilhas do consumo cada vez fácil usando para tanto a figura de uma garota e seu mascote, aparentemente repulsivo, mas que só desperta compaixão e ternura.
 Divulgação / Netflix
Divulgação / NetflixO mundo cresce à razão geométrica, enquanto os recursos para acompanhar tanto crescimento — e tanta gente — se expandem em progressão aritmética, aos poucos. Esse parece ser o argumento central de “Onde Está Segunda?”, do diretor Tommy Wirkola. Os filmes de ficção científica são pródigos em se valer de expedientes os mais mirabolantes a fim de levar um enredo que anuncia futuros nada promissores. Aqui, sete irmãs gêmeas, nascidas num contexto histórico de rigoroso controle da natalidade, só conseguiram ter uma existência razoavelmente normal graças à obstinação — e à criatividade — do avô, que passa a chamá-las atribuindo a cada uma delas um dia da semana; do contrário, apenas uma seria admitida na vida em sociedade, enquanto as demais permaneceriam congeladas, até que a conjuntura fosse menos nebulosa, a produção de alimentos fosse suficiente para todas as bocas e a economia não ameaçasse mais colapsar. As irmãs seguem com as atividades de sempre, até que, trinta anos depois, uma desaparece sem deixar rastro. O filme conduz a narrativa adequadamente, privilegiando as sequências de ação e relegando o maior detalhamento das idiossincrasias psicológicas de cada personagem a um segundo plano, embora Noomi Rapace não deixe a peteca cair por completo e forneça, por meio do bom desempenho em cena, pistas a fim de que o espectador saiba quem é quem.
 Divulgação / Paramount Pictures
Divulgação / Paramount PicturesTrês anos antes que os famigerados reality shows — muito pouco show e ainda menos reality — se tornassem populares e infestassem o Brasil como uma praga radiativa, Peter Weir levava às telas “O Show de Truman”, reflexão sagaz e divertida acerca de nossa exposição diária a “notícias”, “gente que vira notícia”, factoides, lixo, enfim. Desde então, a vida tem sido um feérico espetáculo, interminável, com mais de mil palhaços, motociclistas do globo da morte, trapezistas, domadores de feras e mulheres barbadas no picadeiro. Assim é, se lhe parece: a vida tem as dimensões e a natureza que se lhe queiram dar, e é dessa forma que Truman Burbank procede, tentando digerir a súbita estranheza com muito do que julgou normal ao longo de seus treze mil dias sob o sol. Sem querer, Weir e o roteirista Andrew Niccol alertavam para os riscos da onipresença da tecnologia e seus derivados, tramando contra a humanidade em silêncio, lobo em pele de cordeiro, até que passe a uma adversária desleal, ardilosa e perversa, emulando os mais de 140 mil anos de truculência do homo sapiens sapiens, fervida e refervida nos caldeirões da ganância, do poder a todo custo e do ódio. Enquanto isso, Truman necessita sua própria tábua de salvação, fazendo um esforço para entender por que sua rotina parece tão interessante para todo mundo, esmiuçada pelo programa de televisão mais grotesco jamais visto, e agora conhecida do país todo. A performance de Ed Harris, pródiga das nuanças que um enredo dessa natureza requer, quase empana Jim Carrey num momento luminoso, e ao saber juntar esses dois fios à primeira vista desencapados Weir dá o arremate perfeito para uma narrativa vesana 27 anos atrás, mas que o tempo e a própria sandice do homem trataram de normalizar.