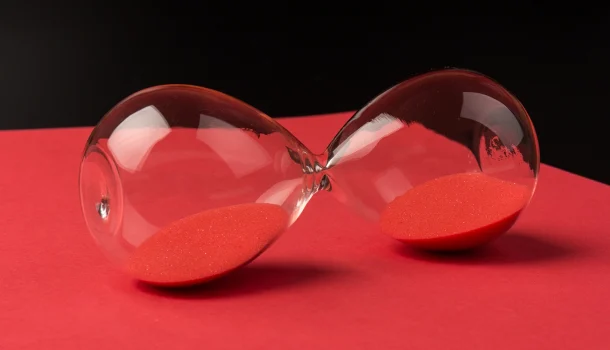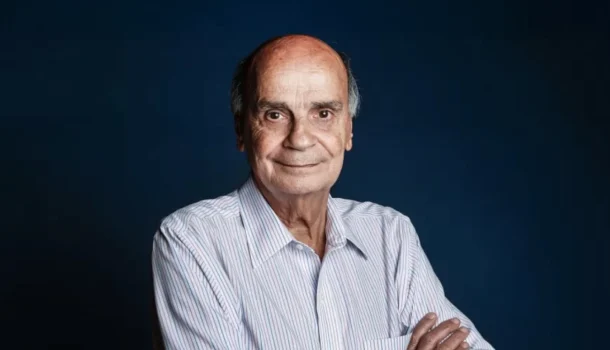Ano que vem tem a tal Copa do Mundo da ALCA (alguém ainda se lembra dessa ideia de ALCA?) e os brasileiros degredados, emigrados, exilados e, vá lá, expatriados terão novamente a oportunidade de resgatar em uníssono o sentimento bissexto pela amarelinha, ainda que sem as peculiares locuções esportivas das transmissões brasileiras, as necessárias folgas do trabalho e, claro, os gritos animados de vizinhos, ora xingando o jogador desastrado, ora homenageando a árvore genealógica do juiz, ora comemorando uma vitória, se é que esta virá.
Talvez haja alguma partida dramática, sempre há, já naquelas fases de mata-mata. O placar apertado, um 2 a 1 nervoso. Mas algo indica que naquele dia a vitória vem. A data é importante, como se a Copa do Mundo pudesse acontecer em um mês de setembro e tem gente se lembrando não só do dia 11 em que um atentado terrorista derrubou duas torres gigantes, deixou milhares de mortos e fez o mundo entrar no século 21 — também se recorda que em 1973 um bando militar deu o golpe no Chile, com a morte do então presidente do país.
Quando a partida caminha para o final do segundo tempo, um pênalti é anotado. A torcida brasileira gruda os olhos na TV e quem coloca a bola na marca de cal é ela, Cármen, jogadora de trajetória sólida e consistente. Os espectadores não têm dúvida de que o gol virá, mesmo que do outro lado, imóvel como se estivesse preso debaixo do travessão, esteja um goleiro ainda muito amado pela torcida. É Jair, o capitão do escrete norte-americano.
Cármen ajeita a camisa amarela no calção, chuta certeira e amplia a contagem. Jair já era, pensam os espectadores. É matematicamente impossível reverter a vantagem no marcador. A torcida norte-americana, resignada, entende que o fatídico lance condena o capitão do time a pendurar as chuteiras. Alguém comenta, sarcástico, que um pijama listrado lhe cairia bem.
Espalhados pelo mundo, brasileiros degredados bebericam um gole de alguma coisa e até ensaiam uma comemoração tímida e quase silenciosa. Não dá para gritar um “é teeeetra”, nem festejar como Pelé o fez em solo americano naquele ano de 1994. Não dá para ir para a Paulista. Também não dá para, no dia seguinte, comentar os lances com o porteiro do prédio, o colega de trabalho, o vizinho da frente.
Só dá para pensar que no Brasil deve estar aquela barulheira de rojões, gente se abraçando, um carnaval fora de época, talvez os amigos combinando um churrasco.
Emigrados precisavam ter uma palavra tão boa como a sororidade das mulheres para definir o entendimento mútuo que ocorre, de modo especial, nessas horas de estranho ufanismo nostálgico. Vamos chamar de diasporidade. É o que sentimos, em terras estrangeiras, quando ouvimos os acordes do Hino Nacional, quando nos lembramos do Sete de Setembro, quando toca um sambinha clássico em alguma festinha ou quando o cardápio do restaurante tem caipirinha — ainda que a receita seja um tanto atrapalhada.
Comungamos desse sentimento também quando tem jogo do Brasil. Ainda mais com gol da Cármen por baixo das canetas do Jair.
Como será que se diz alma lavada em esloveno?