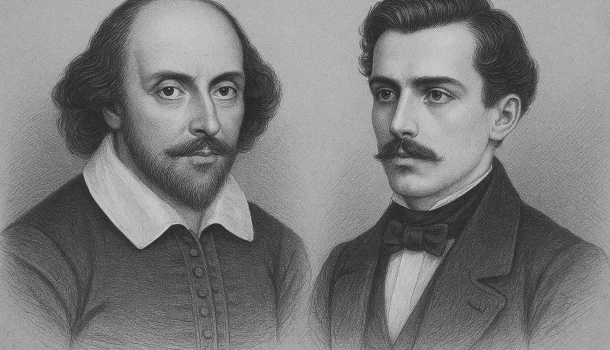Este texto é também uma homenagem ao Professor Alcides Villaça, da USP. Algumas influências são fusões: nelas, a seiva de um autor percorre a seiva de outro. Shakespeare, demiurgo da literatura, chegou à literatura brasileira como ornamento, prova de cosmopolitismo — e foi mais: penetrou como elemento formador, infiltrando arquétipos, ritmos, dilemas. Desde o século 19, seu teatro, traduzido ou lido no idioma original por poucos iniciados, insinuava-se no temperamento literário brasileiro. O personagem Hamlet, melancólico, ressoou na poesia ultrarromântica; o ciúme trágico de um Otelo transpareceu em dramas românticos; e “A Tempestade” deixou, em alguns poetas, um roteiro de personagens que simbolizam tensões.
Na segunda geração romântica, o nome de Shakespeare é matéria de composição simbólica. Álvares de Azevedo, morto aos vinte anos, tinha o faro capaz de perceber, no teatro elisabetano, um arsenal de figuras universais. Ao encontrar em Ariel e Caliban a metáfora perfeita para o dilaceramento humano (alma idealista e corpo instintivo, éter e lama), não fez citação e transposição. Na “Lira dos Vinte Anos”, esses dois polos tornam-se organização estrutural, em seções que obedecem à lógica da própria peça, como se a ilha de Próspero se estendesse às praias da literatura brasileira.
Escrevo este texto com a mesma gratidão com que, aos treze anos, li o prefácio de Alcides Villaça à edição da FTD de “Lira dos Vinte Anos”. Foi a primeira vez que percebi ser possível escrever sobre literatura com a gravidade de um crítico e a liberdade de um poeta. Alcides mostrou-me que a crítica não precisa matar o encanto, mas ampliá-lo; que a leitura pode ser um gesto de devoção e inteligência. Esse prefácio determinou que eu seria crítico literário e que minha vida seria um diálogo com livros, a beleza, a linguagem.
Álvares de Azevedo, o “Renato Russo do século 19”, para quem a adolescência era metáfora — ou, se quisermos mais altivez, o “Rimbaud do Brasil” —, condensou, no espaço breve de sua vida e obra, a centelha que muitos não encontram em décadas. Sua poesia é o diário de um jovem que já nascia velho.
Em “A Tempestade”, Shakespeare traça um duelo sem vencedor: Ariel, o espírito do ar, incorpóreo, leal a Próspero; Caliban, criatura terrosa, rebelde. Ariel assemelha-se a uma música que se ouve antes de ver a cena; Caliban lembra o cheiro da terra e das algas apodrecidas. Entre eles, há o fluxo de forças opostas que sustenta a ilha e o enredo. Essa oposição é alegoria moral, manifestação física das paixões: sem Ariel, Caliban é bruto; sem Caliban, Ariel dissolve-se na inoperância do sonho.
Ao apropriar-se dessa estrutura, Álvares de Azevedo fez um paralelismo: recriou o conflito no território da poesia. Na “Lira…”, Ariel é a parte platônica, idealista, sonhadora — elegias, invocações, suspiros que se elevam acima do mundo. Caliban é a outra parte: sarcasmo, volúpia, humor macabro, carne e vício. Separados, seriam apenas extremos; reunidos num mesmo livro, tornam-se marcas das tensões do homem romântico. A “Lira…” é uma tempestade íntima: o mar bravio do corpo e os ventos etéreos da alma em confronto.
Entre Ariel e Caliban, Álvares de Azevedo construiu um livro que se sustenta em ethos confessionário e ares de palco. A “Lira dos Vinte Anos” alterna o suspiro casto e a gargalhada lasciva. É Shakespeare oferecendo lentes para enxergar a si próprio. Ariel encarna o poeta que escreve de madrugada, em silêncio, voltado para o infinito; Caliban, o estudante boêmio que ri da morte, seduz, devassa, provoca. Sem reconciliação, essa medalha de duas faces em luta tece a recusa de síntese na qual reside a força da obra. Azevedo não buscou resolver o conflito; habitou-o — e parecia saber, mesmo menino, que o poeta vive da tensão, não da paz.
Essa duplicidade é um sofisticado recurso de estilo e, como deve ser, migra para a estrutura. As duas partes, cada uma regida por um temperamento, fazem da “Lira…” um laboratório de contrastes. As faces de Shakespeare atuam como máscaras do próprio autor: por trás de Ariel, o rapaz culto, leitor de Byron e Musset; por trás de Caliban, o jovem febril que reconhece no sarcasmo e no escárnio um modo de se defender. Em ambos os polos, a morte está à espreita, seja como fim, seja como musa.
“A Tempestade” é uma peça de despedida e poder. Próspero, duque destituído e mago exilado, manipula os elementos para ajustar contas e restabelecer a ordem. A ilha é seu território de domínio e de prova, onde Ariel, espírito leve, cumpre suas ordens com música e delicadeza, enquanto Caliban, filho da bruxa Sycorax, resiste, conspirando. O enredo, construído sobre magia, naufrágios e reencontros, é uma meditação sobre autoridade, colonialismo, liberdade e perdão. A reconciliação final é política, e o conflito entre Ariel e Caliban permanece irresoluto: a peça sabe que certas forças não se conciliam; apenas coexistem.

Shakespeare, ao criar Ariel e Caliban, não fixou arquétipos maniqueístas. Ariel não é só luz, nem Caliban só sombra. Ariel, por sua docilidade, também é prisioneiro; Caliban, por sua fúria, também reivindica uma justiça própria. Essa ambivalência deu ao binômio a potência de símbolo duradouro. Cada releitura reencontra um código aberto para falar do humano. Nessa abertura, Álvares de Azevedo encontrou espaço para inscrever-se.
A “Lira dos Vinte Anos” tem dois atos, embora não se restrinja a apenas duas partes. Na primeira, Ariel domina: canções de um romantismo etéreo, versos que cortejam a morte sem pudor; imagens de anjos e madrugadas, uma melancolia desesperada e contemplativa. Na segunda, Caliban toma a pena: surgem sátiras, cenas boêmias, erotismo, humor negro, um riso sem alegria — sobretudo defensivo. A alternância é abrupta: o poeta quer chocar o leitor, lembrá-lo de que toda pureza carrega sua própria lama. Daí a ousadia de termos dois prefácios no livro.
Essa arquitetura reflete um temperamento adolescente e intelectual, capaz de amar e zombar no mesmo instante, de rezar e blasfemar. Em “A Tempestade”, Ariel e Caliban são simultâneos. Ao fazer disso a espinha dorsal de seu livro, Álvares de Azevedo transformou a estrutura de Shakespeare em forma poética brasileira, afinada com a sensibilidade ultrarromântica: exaltada, contraditória, sedenta de absoluto.
O encontro entre Shakespeare e Álvares de Azevedo legou ao romantismo brasileiro uma herança peculiar: a possibilidade de usar personagens universais para falar de dramas pessoais. Ao apropriar-se de Ariel e Caliban, Azevedo não foi servil: criou um sistema simbólico próprio, em que o adolescente paulistano do século 19 podia ser tão trágico quanto o herdeiro de um trono perdido ou o monstro rebelde de uma ilha. Essa transposição elevou a lírica romântica a um patamar de teatralidade e tensão raramente igualado.
Temos aqui um gesto intertextual, de filiação. Azevedo, tão breve em vida, inscreveu-se numa linhagem de poetas que não temem enfrentar o duplo que os habita. Shakespeare lhe deu os nomes, e ele deu o sangue. Essa simbiose — o poeta inglês oferecendo as faces e o brasileiro oferecendo a carne — garante à “Lira dos Vinte Anos” vitalidade notável até hoje. O romantismo brasileiro, marcado pela busca de identidade, encontrou um exemplo forte e sombrio de como ser, ao mesmo tempo, Ariel e Caliban.
Volto àquele adolescente de treze anos, inclinado sobre a edição da FTD, lendo as páginas iniciais assinadas por Alcides Villaça. Ali, antes de compreender um pouco mais de Shakespeare, Ariel ou Caliban, compreendi algo maior: a crítica literária pode ser uma forma de amor. Alcides não resumia nem domesticava; seduzia para o texto, convidava à entrega, fazia da análise um rito de iniciação. Essa herança não se aprende em manuais: recebe-se, pois é um chamado para habitar a literatura com alma.
Álvares de Azevedo, lido à luz de Shakespeare, é poeta da morte precoce e da boemia estudantil, além de dramaturgo íntimo, que montou no próprio espírito o palco onde Ariel e Caliban disputam a cena. Sua “Lira…” é nossa tempestade particular: nela, cada leitor encontra seu vento ou calmaria, sua rebelião. Talvez essa seja a última lição: não escolher entre espírito e carne, luz e sombra. O maior ensinamento é reconhecer-se na força que nasce do atrito. Assim, Shakespeare sobrevive em Álvares, e ambos sobrevivem em nós como vozes que, de ilha em ilha, de século em século, mostram que a literatura é beleza e combate.