Conhecer-se é se libertar, e a psicoterapia, em suas diversas abordagens, tornou-se não apenas um recurso de cura, mas uma forma de alcançar esse tão desejado autoconhecimento. Entretanto, por mais profunda e transformadora que seja, a terapia é, antes de tudo, um emaranhado de códigos, um campo de escuta e nomeação mediado por linguagem própria, com sua estrutura, seu tempo e suas limitações. Porém há recônditos da alma humana a que essa técnica, ainda que habilidosa, não chega. É nesse vão entre o óbvio e o inefável que os livros aboletam-se como uma possibilidade de desvendar os mistérios que nos atravessam. Bons livros não solucionam problemas; eles apontam o caminho para que achemos nós mesmos essa pretensa solução, recusando a facilidade enganosa dos manuais de autoajuda, um gesto de coragem intelectual. Em vez de procurar respostas mastigadas e fórmulas de felicidade instantânea deve-se aceitar que o caminho para a plenitude é doído. A literatura não oferece atalhos, ou até os pode oferecer, mas esses atalhos desdobram-se tanto que acabam em labirintos. No lugar de modelos, somos intimados, sim, à dúvida, à reflexão e à mudança. Os grandes livros expõem a complexidade de ser gente. Por meio deles tolera-se a solidão, cultiva-se a piedade, acolhem-se os defeitos, os nossos e os dos outros. Os grandes livros ferem antes de sanar o mal, instilando em nós o gosto por entender os segredos da existência.
Viver é uma dança no escuro. Cada instante é um enigma, e a consciência, esse lampejo breve entre dois abismos, tenta costurar alguma lógica entre nascimento e finitude. Há quem persiga respostas no transcendente, em pressupostos científicos, em amores que flertam com o eterno, mas ninguém atreve-se a desmentir que as maiores delícias do estar no mundo são as coisas miúdas, quase insignificantes. O existir é um deleitoso paradoxo, absurdo e racional, abjeto e encantador, bravio e delicado, e o mais prudente a se fazer é integrar-se a esse fluxo controverso, como se a sabedoria maior fosse esta: viver não é entender, mas supor, verbo chegado à especulação e, esticando-se um tanto a corda, ao milagre. Em Dostoiévski, Rilke ou Tolstói, achamos um esforço por registrar o extraordinário que rodeia-nos neste plano; assim, os três figuram, ao lado de mais quatro escritores, na lista que preparamos, com sete livros que vão mais fundo que as muitas horas de análise e, às vezes, os medicamentos. Não se trata de substituir estes pelos primeiros, mas de complementá-los, unindo a magia da literatura aos métodos devidamente submetidos a testes e contraprovas. Para dores que não se explicam.
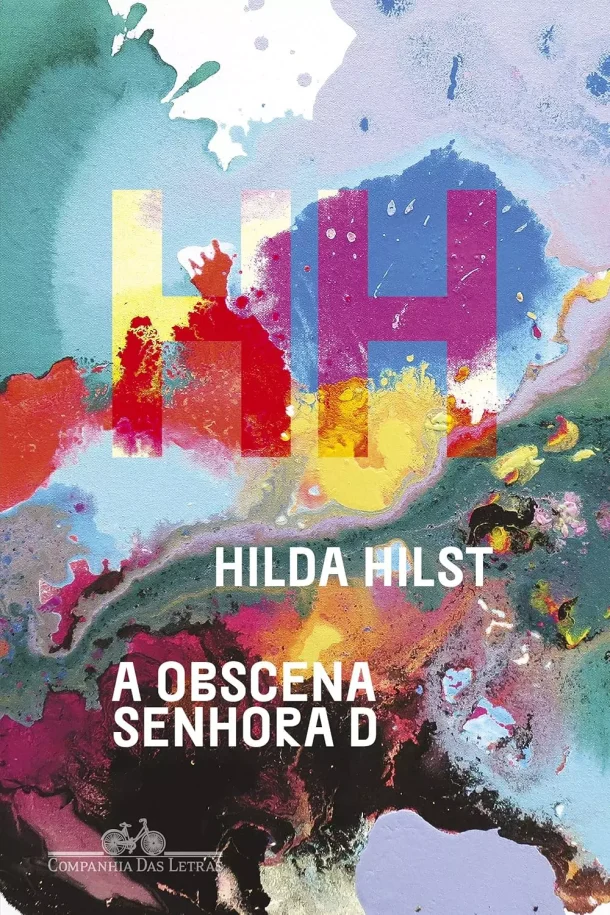
Publicado em 1982, “A Obscena Senhora D” é uma das obras mais radicais de Hilda Hilst, tanto em linguagem quanto em estrutura. O livro narra o mergulho de Hillé, uma mulher idosa, na “clausura”, espaço simbólico e físico onde ela se retira após a morte do marido, Ehud. A escrita fragmentada, quase alucinatória, reflete o colapso mental e emocional da protagonista diante da perda, da velhice, do desejo e da finitude. Hilst rompe com a linearidade narrativa, preferindo a desordem como forma de representar o caos interior. A obscenidade do título não se refere apenas à sexualidade explícita, mas sobretudo à exposição crua do pensamento em seus momentos mais abjetos, confusos ou insuportáveis. A linguagem é densa, poética, atravessada por filosofia, misticismo e intertextualidade. Hillé é uma figura que escandaliza por dizer o indizível, por pensar o inaceitável, num grito contra o silenciamento feminino e o apagamento da velhice. Hilst tensiona os limites entre corpo e espírito, vida e morte, loucura e lucidez. A obra exige do leitor entrega e desconforto, mas recompensa com uma experiência literária intensa, visceral e intransigente. É uma denúncia existencial e uma celebração da palavra como forma de resistência ao esquecimento.
Cem Anos de Solidão (1967), de Gabriel García Márquez (1927-2014)
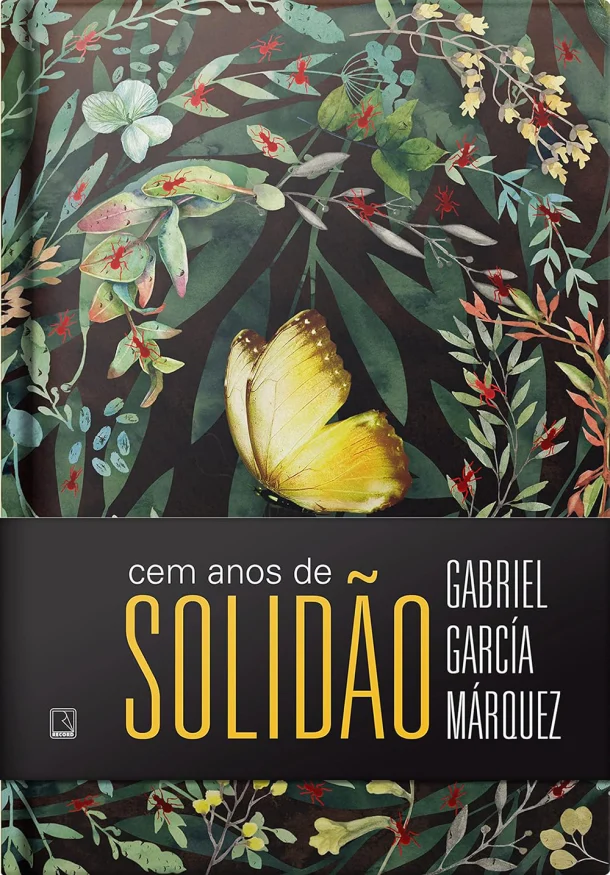
“Cem Anos de Solidão” é uma obra-prima do realismo mágico que narra a saga da família Buendía ao longo de sete gerações na fictícia cidade de Macondo. Com uma prosa rica, poética e envolvente, Gabriel García Márquez mistura o fantástico com o cotidiano, criando um universo onde o irreal se torna natural. O romance explora temas profundos como o tempo cíclico, o destino, a solidão e a repetição dos erros familiares. A história começa com José Arcadio Buendía, fundador de Macondo, e acompanha seus descendentes em uma espiral de paixões, guerras, descobertas e tragédias. Cada personagem, com suas particularidades, contribui para a atmosfera onírica e melancólica que permeia o livro. A escrita de Márquez encanta pelo lirismo e pela capacidade de transformar eventos banais em experiências mágicas. Mais do que uma simples narrativa familiar, o romance é uma alegoria da história da América Latina, marcada por conflitos políticos, colonização e uma busca incessante por identidade. “Cem Anos de Solidão” não é apenas uma leitura, mas uma imersão em um universo encantado e trágico, que permanece atual e impactante. É uma obra essencial para quem deseja compreender a força da literatura latino-americana.
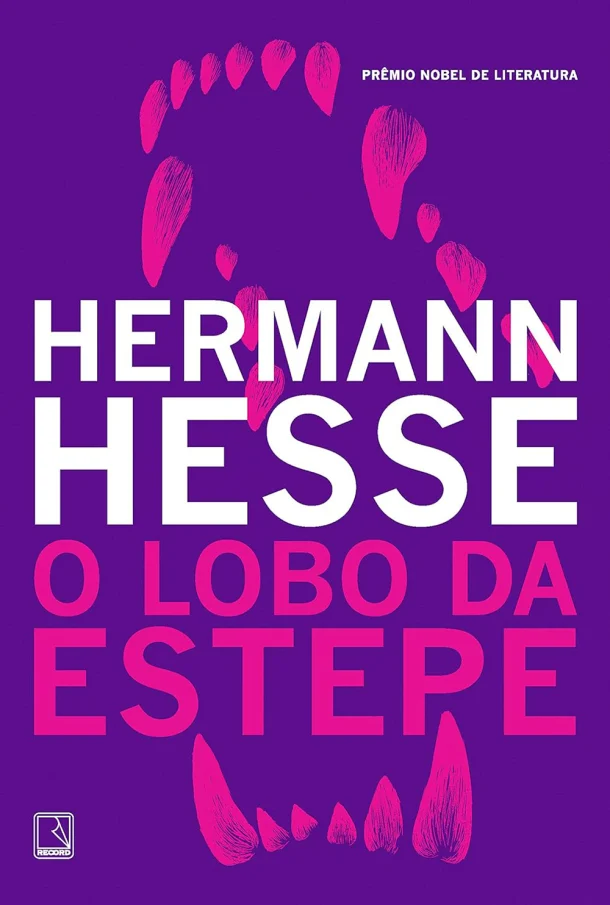
“O Lobo da Estepe”, de Hermann Hesse, é uma obra complexa e profundamente introspectiva que explora a dualidade da alma humana, a crise existencial e a busca por sentido em um mundo moderno e alienante. O protagonista, Harry Haller, é um homem dividido entre sua natureza espiritual e intelectual (humana) e seus instintos mais primitivos e solitários (o lobo). Ele vive à margem da sociedade, desprezando tanto os valores burgueses quanto sua própria incapacidade de encontrar uma alternativa viável. A narrativa se desenvolve como um mosaico de estilos — incluindo prefácios, anotações e um tratado imaginário — que desconstroem a linearidade e enfatizam a fragmentação do eu. Através de encontros simbólicos, como com Hermine e o Teatro Mágico, Haller é confrontado com a multiplicidade de sua identidade, sendo forçado a reconhecer que não é apenas dual, mas composto por inúmeras facetas. Hesse propõe, assim, que a verdadeira liberdade surge quando o indivíduo aceita essa multiplicidade e abandona a rigidez das categorias morais e sociais. O romance critica a alienação do homem moderno, mas também oferece uma possibilidade de transcendência por meio da arte, do autoconhecimento e do humor. Com influência do romantismo, do existencialismo e do misticismo oriental, “O Lobo da Estepe” é uma profunda reflexão sobre a condição humana, marcada por angústia, mas também pela esperança de superação.
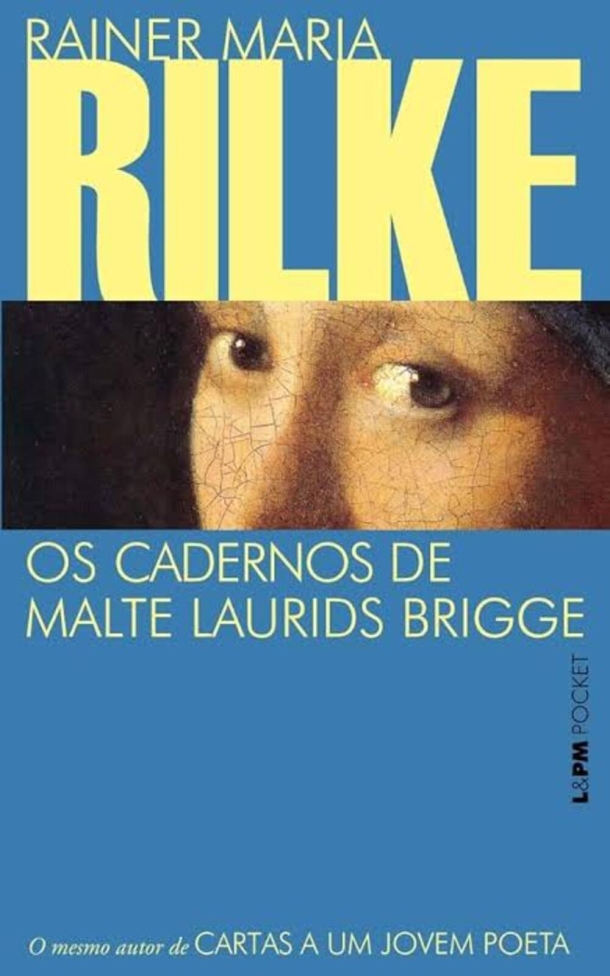
“Os Cadernos de Malte Laurids Brigge” é um romance lírico e fragmentado que escapa às convenções narrativas tradicionais, revelando a intensa interioridade do jovem poeta Malte, um alter ego do próprio Rilke. A obra é marcada por uma escrita profundamente subjetiva, em que Paris, cidade onde Malte vive, aparece não como espaço concreto, mas como projeção do mal-estar moderno. O livro mistura memórias de infância, reflexões filosóficas, visões da morte, da doença e da solidão, revelando um sujeito dilacerado diante da perda de sentido e da impossibilidade de pertença. Rilke transita entre o diário íntimo e o ensaio poético, instaurando um fluxo de consciência angustiado e belo. O autor desafia o leitor com imagens densas e associações livres, em uma linguagem que toca a fronteira entre poesia e prosa. A morte não é apenas tema recorrente, mas obsessão estilística e existencial. Há também uma crítica implícita à modernidade, vista como desumanizante e ruidosa, em contraste com a sensibilidade contemplativa que o narrador persegue. Trata-se de uma obra profundamente existencial, em que o ato de escrever é, ao mesmo tempo, busca de identidade e tentativa de sobrevivência diante do vazio. Um clássico da literatura do mal-estar, que antecipa questões centrais do século 20.
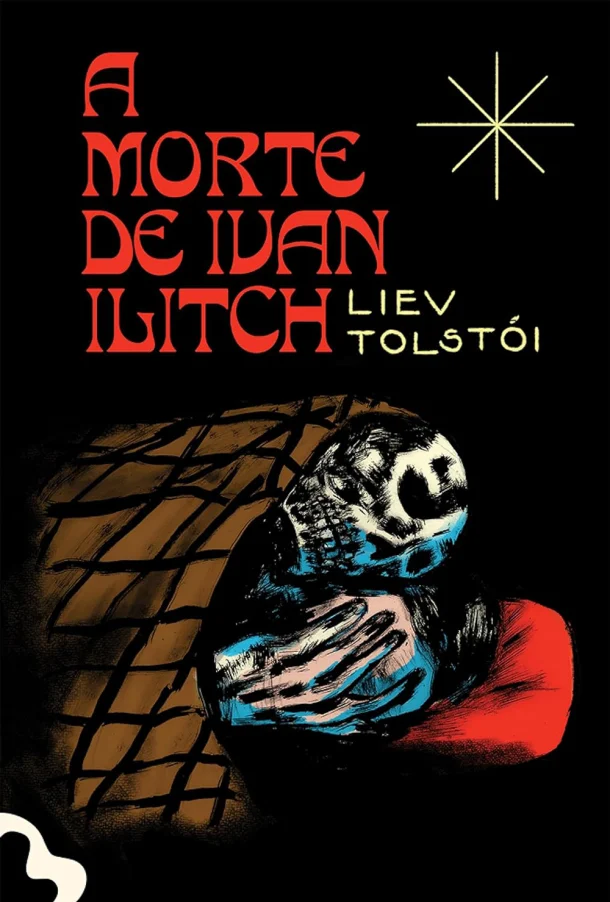
Com “A Morte de Ivan Ílitch”, romance publicado em 1886, Liev Tolstói (1828-1910) talvez tenha escrito sua novela mais amarga, muito mais ainda do que “Guerra e Paz” (1867), monumento de mais de mil páginas sobre a baldada invasão napoleônica à Rússia em 1812. Em “Guerra e Paz”, Tolstói elabora um quadro milimetricamente detalhado de uma sucessão de confrontos campais, de natureza sangrenta, portanto, mas nunca se esquecendo de pontuar a narrativa bélica com a vida íntima de uma família. A morte para Tolstói torna-se desde então um leitmotiv vital em seus trabalhos, ainda que o tempere, como já se mencionou, com fatos comezinhos — e é nisso que reside a genialidade do russo. A finitude em “A Morte de Ivan Ílitch” adquire tintas muito mais dramáticas porque 1) trata-se de um homem jovem, mesmo para os padrões do século retrasado, uma vez que o próprio Tolstói passou dos oitenta anos; 2) o protagonista sucumbe a uma enfermidade implacável, que se arrasta ao longo de muito tempo e para a qual nem se sonhava com qualquer possibilidade de cura — isso, sim, uma constante na época em que se passa a história. Tudo leva a crer que se trata de um câncer do aparelho digestivo; 3) poder-se-ia admitir que Ivan Ílitch se fosse ainda moço, o ponto não é esse. O que Tolstói não deixa escapar é o caráter rasteiro da vida que levara. Não fora um biltre, um corrupto, um degenerado. Pelo contrário.
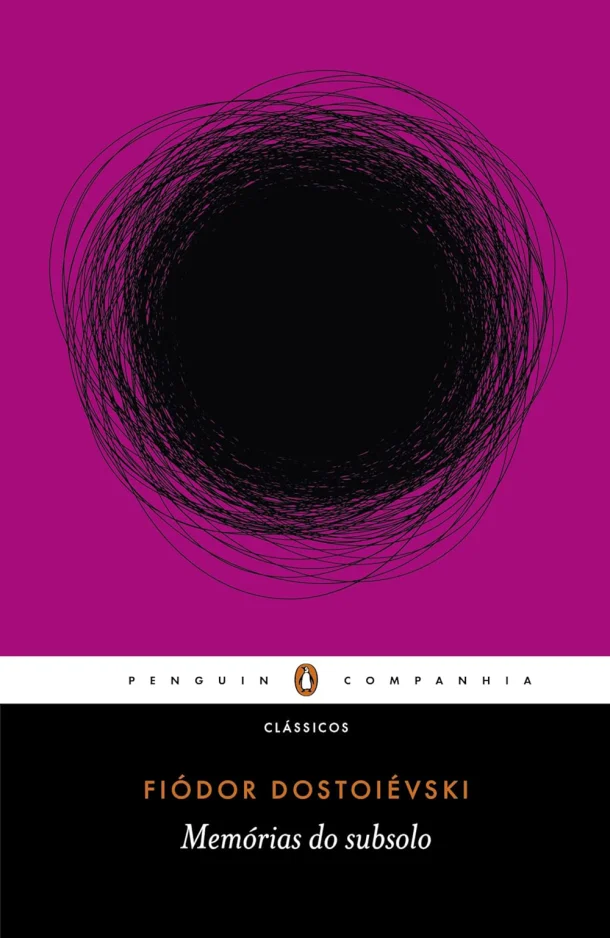
Em 1864, um inverno rigoroso assolava Moscou. Seria mais um de muitos na quase sempre gélida capital russa, não fosse pelo fato de que Fiódor Dostoiévski (1821-1881) precisava se desdobrar entre os cuidados com a mulher, que morria de tuberculose, e o esmero com que se debruçava sobre seu novo trabalho, uma ode à vida, à beleza do viver, às incongruências de um homem frustrado, que se retira do serviço público — atividade a que se dedicava apenas para ter o que comer — e vai morar num cubículo, num bairro afastado da cidade, e mesmo assim enfrentando apuros de dinheiro. Tudo nele — e no próprio Dostoiévski, como se vai ver — é dúvida. Dostoiévski talvez seja dos escritores mais aferrados à dúvida de que se tem conhecimento. Em “Memórias do Subsolo”, o livro em questão, por meio desse protagonista, agoniado, desprotegido, desacorçoado, Dostoiévski encarna a dúvida de tudo, inclusive das certezas, ou melhor, principalmente das certezas. Como em “O Sonho de um Homem Ridículo” (1877), a insignificância do personagem central o impede de ter um nome, mas esse sujeito instável, como todos os tipos de Dostoiévski, é dono de uma inteligência invulgar, capaz de conduzir o leitor por um labirinto de pensamentos que ele faz parecer completamente irrefutáveis só para, logo, a seguir, botá-los todos à prova. “Memórias do Subsolo” é o romance de formação de Dostoiévski, superando os imprescindíveis “O Idiota” e “Os Irmãos Karamázov”, justamente por introduzir o público no universo de seu autor. Por meio de “Memórias” é que o leitor vai começar a ter alguma ideia do quão fundo é o buraco existencial dostoievskiano.
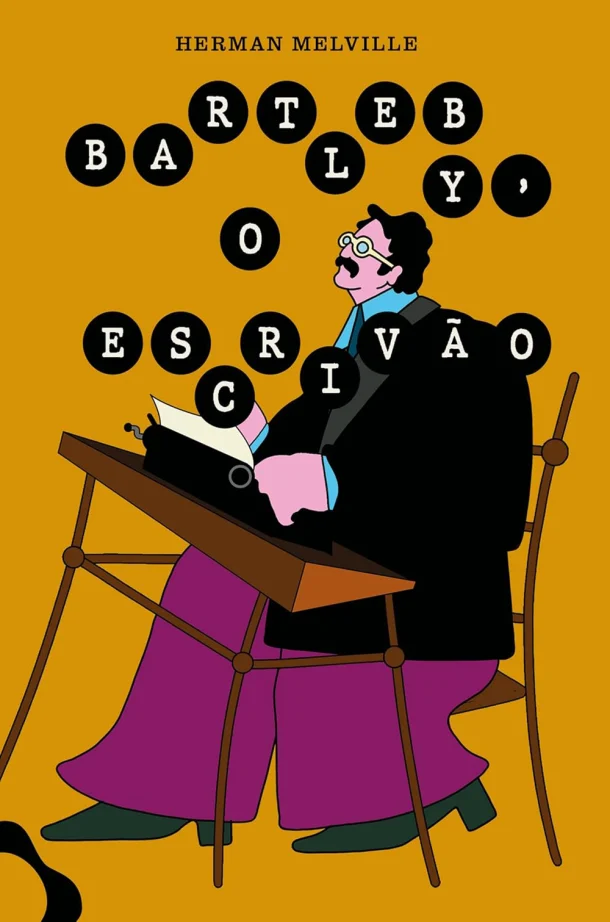
“Bartleby, o Escrivão”, de Herman Melville (1819-1891), é uma novela que explora temas como alienação, conformismo e a desumanização nas relações de trabalho. A história é narrada por um advogado de Wall Street que contrata Bartleby, um escriba inicialmente eficiente, mas que logo passa a recusar tarefas com a repetida frase: “Preferia não fazê-lo”. Essa recusa passiva, porém persistente, desestabiliza o ambiente de trabalho e desafia as expectativas do narrador, que representa a voz da lógica e do sistema. O comportamento de Bartleby é enigmático e simbólico, revelando uma forma de resistência silenciosa diante das pressões sociais e profissionais. Sua apatia crescente, culminando na recusa de se alimentar, pode ser interpretada como um protesto existencial contra a vida mecanizada e sem propósito. A atitude do narrador oscila entre o incômodo e a compaixão, evidenciando o conflito moral entre o dever profissional e a empatia humana. Melville constrói uma crítica contundente à sociedade capitalista do século 19 — ainda atual — mostrando como indivíduos podem ser descartados quando deixam de ser úteis. O final trágico de Bartleby, isolado e ignorado, reforça o peso do silêncio e da indiferença. A narrativa minimalista e simbólica convida à reflexão sobre liberdade, identidade e a fragilidade do ser humano diante das estruturas sociais.








