Abrir “Solenoide” não é exatamente iniciar uma leitura. É como atravessar um campo magnético. Um campo onde as palavras não obedecem — elas vibram, latejam, resistem. O título já antecipa: não se trata de uma narrativa, mas de um dispositivo — enrolado em camadas, energizado por tensão invisível.
O protagonista é um homem sem nome. Professor, sem alunos memoráveis. Escritor, sem obra publicada. Alguém que vive em Bucareste como quem respira o ar errado. A cidade, ali, não é cenário: é sintoma. Umidade que sobe pelas paredes, poeira de giz que se acumula na pele, salões públicos que cheiram a fungo e náusea. O mundo real range. Há algo nele que não encaixa — e a literatura não tenta consertar.
Não há enredo. Há pulsação. O passado do narrador — infância, dentes podres, humilhações escolares, febres sem nome — retorna não como lembrança, mas como contágio. Imagens se repetem como espasmos. Uma mosca sob a pele. Uma mulher que flutua. Um diário que cresce como um tumor verbal. Nada disso é metáfora. Tudo isso é.
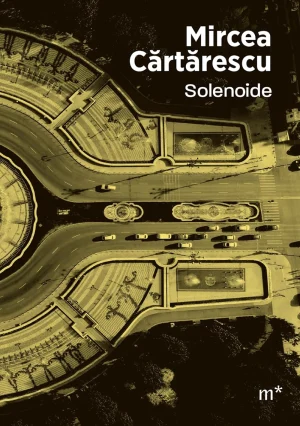
A linguagem opera como corpo infectado: suando, tremendo, tentando manter a consciência. Frases longas como delírios. Parágrafos que se recusam a terminar, como se temessem o silêncio. Mas também — às vezes — uma frase curta. E é nesse momento que mais dói.
O fracasso do personagem em publicar sua obra não se apresenta como lamento, mas como destino. Ele não quer ser autor. Quer ser organismo. Ao recusar o sucesso, também recusa o sistema — inclusive o sistema da narrativa. E nesse gesto silencioso há uma espécie de protesto radical: contra a literatura domesticada, contra o tempo linear, contra a ideia de que tudo precisa de função.
“Solenoide” não deseja ser lido da forma habitual. Ele se infiltra, como uma febre que insiste mesmo depois da cura. A sensação não é de entendimento — é de contaminação. Há trechos em que a lucidez se torna insuportável, não por excesso de inteligência, mas por revelar aquilo que se passa o tempo todo — e que se escolhe não ver.
Os solenoides do título — bobinas eletromagnéticas enterradas sob a casa — são reais dentro da ficção. Mas também são impalpáveis como os impulsos que geram o medo ou o desejo. Não explicam nada. Mas estão ali, emitindo. O romance inteiro parece construído como uma dessas máquinas: enrolado, hermético, vibrante — produzindo um campo que ninguém vê, mas todos sentem.
O mais inquietante talvez não seja o absurdo, mas a calma com que ele se instala. A mulher que flutua não surpreende. O museu de fetos não escandaliza. Há um tipo de resignação absurda, como se o mundo tivesse sido sempre assim, e só agora se admitisse.
A certa altura, torna-se evidente: “Solenoide” não está interessado em redimir a experiência humana. Ele apenas a expõe. Sem filtro, sem moldura, sem esperança de transcendência. E mesmo assim, paradoxalmente, há beleza. Uma beleza áspera, quase doente. Como uma flor nascendo dentro de uma fratura.
Não se trata de um livro fácil. Tampouco de um livro que deseja ser admirado. Trata-se de um corpo textual que nos observa enquanto o lemos. E, ao final, talvez a pergunta não seja “o que esse livro quis dizer?”, mas “o que ele soube de nós que tentávamos esconder?”
Sim. Há livros que iluminam. Este escurece — e nesse escuro, algo muito antigo e muito íntimo volta a pulsar.







