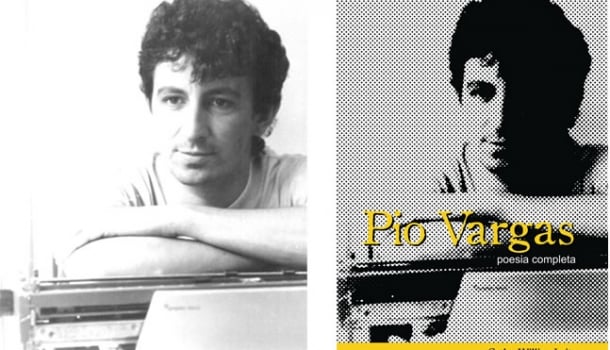Para começar com uma frase dos saudosos e dos meio caducos, eu me lembro como se fosse ontem: Era julho de 1981 quando me mudei de volta para Iporá e fui residir à Avenida Minas Gerais. A mesma em que morava um jovem poeta chamado Pio Vargas. Já ouvira falar dele, tinha o visto algumas vezes, mas a gente nunca se falara. Não que houvesse malquerença entre nós. O que faltava era o estabelecimento da amizade. Certa manhã, quando ele passava à porta de minha casa, coxeando visivelmente (sequela dos excessos da pedagogia caseira), antes que eu tomasse a iniciativa de interceptá-lo, ele me abordou. E fomos logo falando de livros, leituras, poesias. Em meio tempo, éramos velhos amigos.
Pio era ainda um garoto estudante do ciclo básico, aluno da entusiasta professora de Português Laurinda Barbalho, responsável pelo acompanhamento de suas primeiras criações poéticas. Depois daquele dia, eram bastante freqüentes suas passadas em minha casa, ocasiões em que demonstrava cordialidade e gentileza comigo, com meus filhos e minha mulher. Mas o que ele interessava de fato era falar de Literatura e ter acesso aos livros de minha biblioteca que, apesar de não ser grande, era uma das mais selecionadas que havia em Iporá, à época.
Até hoje muitas pessoas dizem que fui uma espécie de pai literário de Pio Vargas, que fui seu orientador, a pessoa que o conectou com a poesia considerada de boa qualidade. Eu mesmo cheguei a alimentar essa ilusão por algum tempo. Mas olhando agora de longe, pela perspectiva que o tempo nos dá, acredito que há um equívoco em tudo isso. Na verdade, se há um pai literário nessa relação, eu é que sou filho de Pio Vargas.
Ocorre que eu, beirando meus trinta anos, buscando ascensão profissional, cuidando da família, já estava bastante conformado com a mera condição de leitor e autor diletante. Mas Pio Vargas me apareceu incendiado pelo entusiasmo, com belos versos inéditos, com frases de efeito desconcertantes, com mil projetos de escrever isso e aquilo, de fazer e acontecer através da escrita. Imediatamente fui contaminado pela sua chama poética, como se eu tivesse voltado uns dez ou quinze anos em minha vida, quando eu também andava incendiado pelo ardor da palavra.
Foi então que eu apressei a escrita e publiquei “Estação do Cio”, meio que competindo com ele, que escrevia “Janelas do Espontâneo”. Logo em seguida comecei a escrever os poemas de “Coisa Incoesa” e fazer as pesquisas para o romance “A Centopéia de Néon”. Ele escrevia os poemas que depois foram distribuídos nos livros “Os Novelos do Acaso”, “Anatomia do Gesto”, “Sabor de Palavras” e “Os Engenhos do Vão”. Havia em nosso trabalho muita cooperação e cumplicidade. Eu dava pitaco nos trabalhos dele e ele dava nos meus.
Pio Vargas era um camarada crítico, gozador. Perdia a amizade, mas não perdia a piada, como se diz. No entanto era de alma leve. Depois da piada e o riso gaiato era capaz de manter a mesma amizade sincera de sempre. Nutria um certo sarcasmo pelas autoridades, pelas pessoas bem-postas, pelos poetas estabelecidos, por aquelas que comem abóbora e arrotam faisão.
Isso talvez tenha lhe custado extremamente caro. Até hoje, mesmo passado quase duas décadas de sua morte, o velho politiburo literário e o establishment cultural goiano não o engolem. Apesar de ter deixado uma obra consistente, criativa e fulgurante, é tratado como um nada literário. Não há quem de direito que se atreva a comentá-la. É como se ele ainda constituísse uma ameaça pairando ar, que pudesse de repente roubar o pedestal de alguém.
Dentro da comenda Troféu Jaburu, por exemplo, há uma medalha intitulada Pio Vargas de Agitação Cultural, proposta por mim, quando estive membro do Conselho Estadual de Cultura. Vale lembrar que méritos não lhe faltam. Ele esteve à frente de uma efervescência cultural considerável em Goiânia no final dos anos 80, princípio dos 90, ao editar e divulgar novos autores por meio de suas irreverentes edições xérox, intituladas PN (de porra nenhuma). Mas por obra e graça dos abafadores de plantão, essa medalha foi deletada em algum momento e não consta mais do regulamento do troféu.
Seu livro “Os Novelos do Acaso” foi prêmio da Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, em 1990, promovida pela UBE, com patrocínio da Prefeitura de Goiânia. Recentemente dei uma olhada na lista dos vencedores do certame desde 1944. Adivinhem o que encontrei? Exatamente a ausência do nome de Pio Vargas da lista dos ganhadores, nos anais da instituição. E somente o dele. Mandei imediatamente reparar o erro.
Um dos mais belos poemas sobre Goiânia foi escrito por Pio Vargas e se chama “Outubro ou nada”. Num livro relativamente recente que reúne os poemas de diversas épocas que têm Goiânia como tema, esse do Pio foi providencialmente esquecido. Apesar de ter sido lembrado por ocasião do levantamento. Um outro descaso: A biblioteca do centro de Cultura Marieta Teles Machado leva o nome de Pio Vargas. No entanto, em seu acervo, pelo menos até bem recente, não havia uma única obra sua à disposição dos eventuais leitores. Por isso já foi entreouvido o seguinte diálogo, nas dependência da biblioteca que leva seu nome:
— Quem foi esse tal de Pio Vargas?
— Sei lá. Deve ser algum parente do Getúlio Vargas.
Pio Vargas foi um apedeuta ilustrado. Não chegou a concluir o primeiro grau, mas escrevia bem e declamava melhor ainda. Porém o bom mesmo era ver sua agilidade mental, suas tiradas espirituosas, no calor dos fatos. Certa vez, a gente tomava cerveja num bar bacana em Iporá. Um dos convivas, reconhecidamente de família abastada, por um momento de miudeza espiritual, lamentou que teve de lutar muito para chegar onde se achava, comeu o pão que o diabo amassou, por ser filho de pai pobre. No que foi prontamente interrompido pelo Pio:
— Se você é filho de pai pobre, eu sou filho de “pai pérrimo”. E a gargalhada geral interrompeu a falsa lamúria.
Certa feita um poeta falante, autoalardeador e de estatura agigantada chegou a um evento literário em Iporá. O tal poeta se chamava Semi Gidrão. Ao se apresentar ao Pio, ouviu o comentário:
— Se um semigidrão é tudo isso, imagina um gidrão inteiro!?
Noutra vez, quando era presidente da Comissão Nacional da Juventude, um órgão que então existia no PMDB (que era um partido probo e idealista na luta contra a ditadura militar), Pio Vargas foi participar de uma convenção em São Paulo. Lá foi convidado à mesa de honra, como tinha de ser. E quem foi fazer a abertura do evento? Ele, o presidente do partido, o Sr. Diretas Já, o presidente do Congresso Nacional, o maior mito de nossa História contemporânea: Ulisses Guimarães. Após os prolegômenos de praxe o deputado Ulisses, já velhinho, afirmou:
— Eu sou um peemedebista histórico… E sem maiores cerimônias, Pio Vargas o interpelou:
— Histórico sou eu, presidente, o senhor é pré-histórico. A gargalhada foi geral, inclusive do próprio Ulisses. Daí em diante a convenção transcorreu no maior clima de alegria e entusiasmo. E a tirada agradou tanto ao velho Ulisses que muitas vezes depois, em ocasiões diversas, afirmou que era um “peemedebista pré-histórico”.
Dez anos depois de a gente se conhecer em Iporá, Pio Vargas morreu em Turvelândia, a 218 km da Capital de Goiás, vítima de uma dose cavalar de alcaloide. Na noite que antecedeu a sua morte, tomei uma cerveja com ele num barzinho em frente à sua casa, à Rua 24, no centro de Goiânia. Eu falava de meus projetos, ele falava dos deles. E também de um projeto comum. Estávamos começando a escrever um livro de poemas a quatro mãos: um começava o texto e o outro terminava. A autoria era atribuída a Gaspar do Valle, assim como Jorge Luís Borges e Bioy Casares escreveram crônicas e assinaram com o pseudônimo de Bustus Domecq. Pio parecia estar com o coração congestionado de sentimentos contraditórios. Então ele me falou uma coisa que não entendi na hora. Que a morte talvez fosse uma forma de exercer a vida em sua plenitude, em sua condição mais expandida. Pensei que ele estivesse falando de uma possibilidade poética, de uma coisa metafórica.
Naquela noite ele ainda deixou com a Edilene Naves, sua mulher, um envelope lacrado para ser entregue a mim. Dentro continha um livro de título sintomático: “Tudo Que é Sólido Desmancha no Ar” (do americano Marshall Berman) e um poema para eu complementar. Com sua morte no dia seguinte, concluí que o poema estava pronto. Portanto nunca o complementei, e nunca vou complementá-lo. É a primeira vez que mostro esse poema, que tem um título sugestivo: “Despertáculo”.
Despertáculo
Estou pronto
para a guerra que encontro
quando acordo:
botei vigia nos sentidos
e iludi com comprimidos
outros seres a meu bordo.
Abandonei o vício
de estar sempre
a soletrar ruínas,
dei liberdade a meus detentos
minha pressa diluiu nos passos lentos
e rasguei
meu calendário de rotinas.
Inverti a ordem.
Já não saio por aí
a devorar compromissos,
tomei posse no governo de mi mesmo
e derrotei os meus omissos.
Venci a batalhas
de ter que estar sempre por perto,
às vezes voo para dentro
do meu sonho a céu aberto.
Estou pronto:
eu já concordo
com a guerra que encontro
quando acordo.
Os sons do ofício
É porque recolho o vário
no aviário das vértebras
e me há um silo de células
e me há um quase-aquário,
que o poema se me chega,
estuário.
Que me importa
a sina jugular das fases,
a vida conjugal das frases
e o semblante cínico
das fezes,
se não faço poemas
como quem defende teses.
Faço poemas
para que passem os dias
e pascem os rebanhos
e os oceanos pasmem
ante o naufrágio
de todas as datas
no calendário-lanho.
Ou seja, faço-os
como quem viceja
os laços do arremesso
como quem vislumbra
silêncio nos entulhos
e aprendeu a estrutura ideal
para montar barulhos
sob a língua mais banal.
Faço-os
como quem lambe oásis no planalto,
deixado pelas bases
de um simples sobressalto.
É como se o ego
coubesse inteiro
na determinação de um prego
que me fixa exílios sob a carne
mas que também aciona
os gatilhos do alarme.