Para muita gente, 2025 foi um ano de exaustão silenciosa. As notícias insistiram em ciclos de crise, o trabalho ocupou horários que antes eram de descanso, e a diferença entre dia útil e fim de semana pareceu se dissolver. Dezembro chega com luzes nas ruas e músicas repetidas, mas também com a sensação de que o corpo está atrasado em relação ao calendário. O convite à celebração convive com a vontade de desaparecer por alguns dias e desligar notificações, conversas obrigatórias, reuniões de família que exigem uma alegria que nem sempre existe. Nesse cenário, buscar livros não significa escapar do mundo, e sim encontrar uma margem segura para finalmente escutar o que ficou abafado durante meses.
A lista parte dessa sensação de estar esgotado e sem rumo, típica de finais de ano em que as promessas feitas em janeiro soam distantes. Em vez de propor leituras para “virar a página” ou “recomeçar do zero”, o ponto de partida é outro: livros que acolhem o descompasso, reconhecem a fadiga e tratam a desorientação como parte da vida contemporânea, não como falha individual. São narrativas que lidam com luto, perda, desencontro e cansaço, mas também com gestos mínimos de cuidado, encontros improváveis e formas discretas de solidariedade. Em comum, oferecem personagens que tentam reconstruir algum tipo de rotina possível quando o mundo exterior pede velocidade permanente.
Esses livros podem ser lidos devagar, em dias de calor úmido, no intervalo entre um compromisso e outro, ou em noites em que o sono não chega na hora esperada. Alguns se aproximam do leitor com histórias íntimas, quase domésticas; outros optam por uma reflexão mais ampla sobre memória, política, fé, maternidade, amizade ou arte. Todos se interessam por figuras que aprenderam a conviver com o próprio cansaço sem transformá-lo em espetáculo, pessoas que descobrem brechas para respirar em meio a perdas grandes e pequenas. Em dezembro, quando as redes sociais insistem em balanços finais e metas futuras, dedicar algumas horas a esses livros pode ser uma forma discreta de rever o ano vivido e preparar, com menos cobrança, o passo seguinte.
Dezembro também costuma concentrar convites, confraternizações, filas e compromissos escolares, muitas vezes em ritmo difícil de acompanhar. Quando tudo isso se acumula, um livro pode funcionar como pequena suspensão cotidiana, um espaço em que ninguém pede desempenho, resposta imediata ou opinião sobre o próximo ano, apenas presença atenta, mesmo que cansada por alguns instantes.
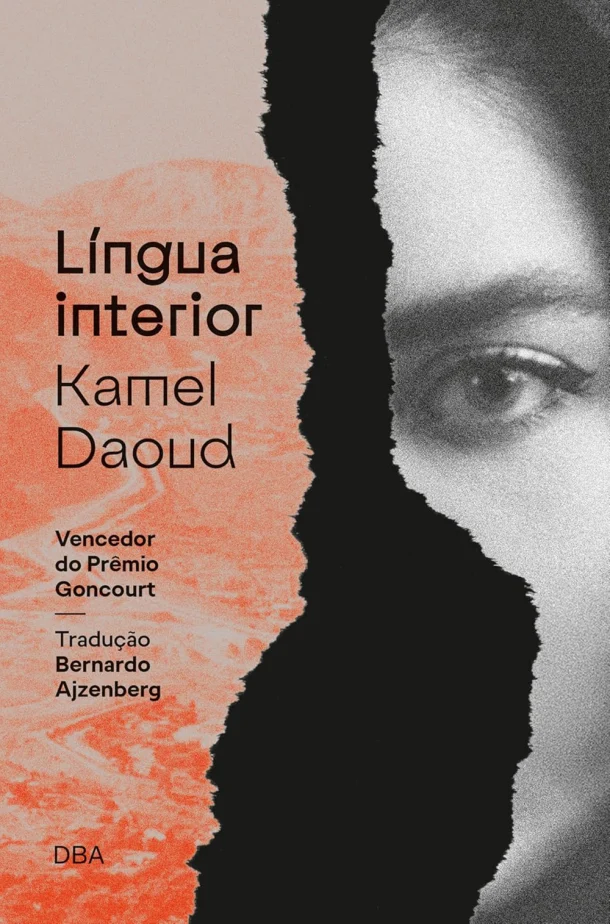
Aube sobreviveu a uma noite em que tudo o que ela conhecia foi destruído, a casa, o vilarejo e a família inteira abatida durante a guerra civil argelina. Anos depois, vivendo em Orã e trabalhando num salão de beleza, carrega no corpo a cicatriz que quase lhe tirou a voz e, no ventre, uma criança ainda sem nome. Incapaz de confiar na língua oficial, na retórica do Estado ou nas versões higienizadas da história recente, encontra apenas um destinatário possível para o que precisa dizer, a filha que talvez venha a nascer. O romance acompanha esse solilóquio em que passado e presente se misturam numa fala subterrânea, feita de imagens truncadas, pequenos detalhes domésticos e lembranças que insistem em reaparecer com a violência do primeiro instante. Aube alterna o relato minucioso do massacre e da fuga com observações sobre o trabalho, o corpo, o desejo de desaparecer, a cidade que fingiu esquecer o que aconteceu nos anos da década negra. Em cada frase dirigida ao feto, ela testa a possibilidade de transformar o trauma em narrativa, sem certeza alguma de querer legar essa memória a outra vida. Nessa tensão entre a vontade de proteger e a necessidade de testemunhar, a voz que parecia perdida encontra uma forma precária, mas radical, de existência, uma língua secreta que se faz no limite entre o silêncio imposto e a recusa a esquecer.
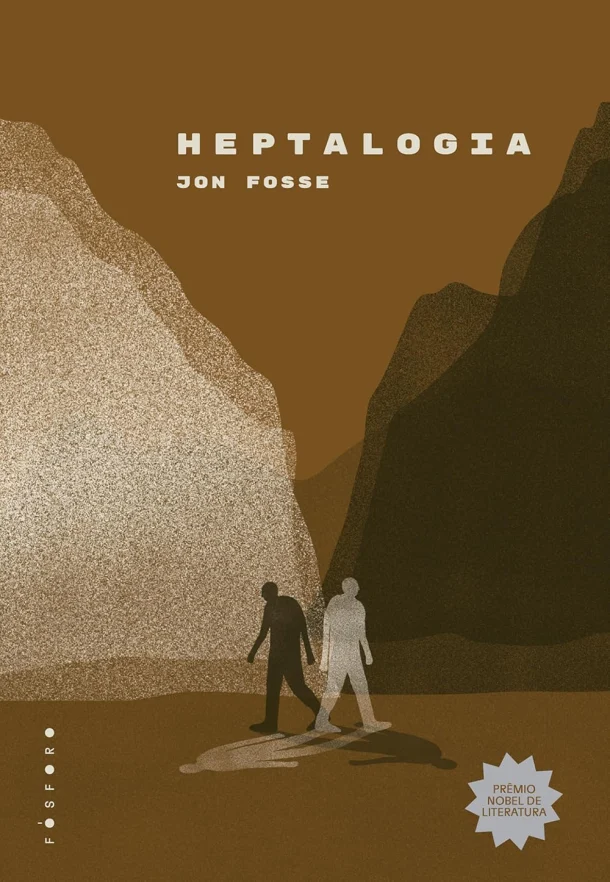
Asle, pintor viúvo que vive à beira de um fiorde na costa ocidental da Noruega, passa os dias entre o ateliê modesto, a estrada até a cidade e a lembrança insistente da mulher morta. Convertido ao catolicismo depois de uma juventude entregue à bebida, ele tenta levar uma vida disciplinada, marcada por pequenos rituais: rezar, pintar, visitar o vizinho Åsleik, negociar quadros com o galerista, checar se as velas estão acesas diante das imagens sagradas. Enquanto conduz o carro por estradas escuras ou encara a tela quase vazia, a mente retorna sempre aos mesmos motivos, a infância, a perda, a culpa, a pergunta sobre se ainda há tempo para tornar a existência menos falhada. Em paralelo, emerge a figura de um outro Asle, também pintor, solitário e arruinado pelo álcool, que parece viver uma versão deslocada da mesma vida, como se fosse um reflexo em água agitada. Os sete romances que compõem o livro acompanham os poucos dias que antecedem o Natal, percorrendo esses dois destinos em espiral lenta, repleta de repetições, variações e aproximações. O fluxo contínuo de pensamento recusa divisões claras entre presente e passado, oração e lembrança, arte e desespero, permitindo que tudo se misture na mesma cadência hipnótica. Sem oferecer revelações espetaculares nem respostas teológicas, a narrativa acompanha o esforço de Asle para aceitar o que viveu, cuidar do outro e, talvez, encontrar uma forma silenciosa de permanecer no mundo.

Mikage Sakurai, jovem japonesa que perdeu os pais cedo e foi criada pela avó, vê sua frágil sensação de mundo ruir quando essa última presença afetiva também desaparece. À deriva num apartamento silencioso, ela passa a dormir ao lado do refrigerador, buscando no ruído constante da cozinha um tipo de consolo que nenhuma conversa consegue oferecer. É nesse estado de suspensão que conhece Yuichi, rapaz gentil ligado à antiga vida de sua avó, e aceita o convite para viver temporariamente com ele e com Eriko, sua mãe trans, proprietária de um bar noturno. Nesse lar improvável, onde panelas, flores e luminárias convivem com uma delicada estranheza, a protagonista descobre uma rotina feita de pequenos gestos: preparar refeições, compartilhar histórias truncadas, observar a solidão do outro enquanto tenta nomear a própria. A narrativa acompanha, com delicadeza e um humor quase imperceptível, o modo como essa convivência vai redesenhando os contornos do luto, do desejo e da amizade, sem oferecer respostas fáceis nem promessas de cura completa. Mais do que contar uma história de superação, o livro se concentra nas pausas, nos silêncios à mesa e nos deslocamentos pela cidade, enquanto Mikage aprende a reconhecer que o cuidado pode assumir formas imprevistas e que, às vezes, continuar é apenas encontrar um lugar minimamente iluminado onde seja possível preparar chá para si e para quem chega.
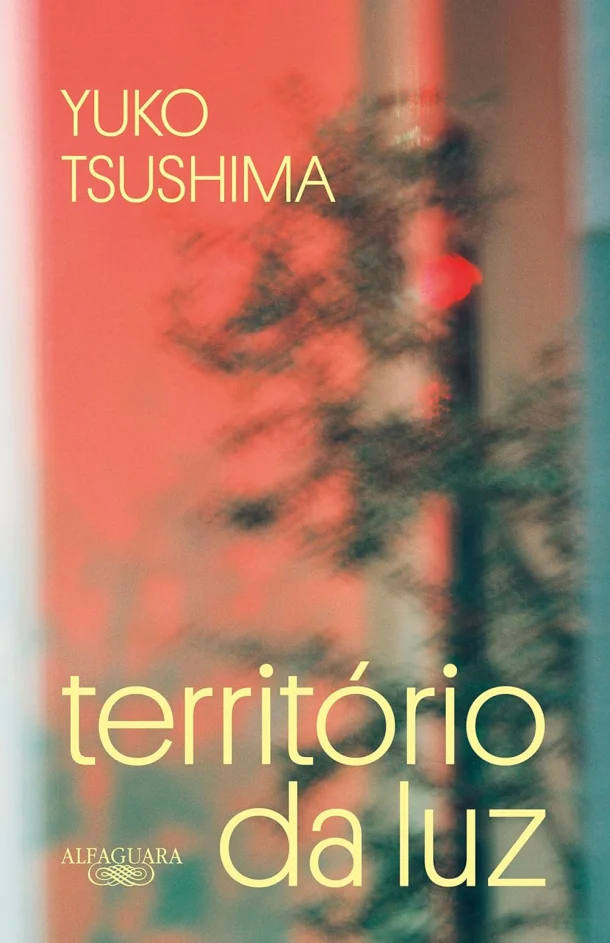
Uma mulher jovem, recentemente deixada pelo marido, muda-se com a filha pequena para um apartamento alto em Tóquio, alugado às pressas e inundado de claridade. O espaço, antes frio e ainda cheirando a abandono, torna-se o cenário onde ela tenta se recompor: organiza colchões, improvisa refeições, calcula cada conta enquanto aprende, quase à força, a rotina de uma maternidade sem rede de apoio. A narradora, que fala em primeira pessoa e permanece sem nome, registra um ano de vida nesse lugar suspenso, acompanhando as oscilações de humor da criança, as intromissões do ex-marido, a condescendência do trabalho e a vigilância silenciosa dos vizinhos. A luz que atravessa as janelas funciona como uma espécie de medida do tempo e de sua própria exaustão: às vezes oferece uma promessa tímida de recomeço, noutras expõe os restos do que não deu certo, as noites mal dormidas, o corpo cansado que ela insiste em manter de pé. A narrativa avança por episódios que misturam pequenos acidentes domésticos, visitas inesperadas e momentos de ternura brusca, sempre à beira do colapso financeiro e emocional. Sem transformar o sofrimento em espetáculo nem oferecer saídas redentoras, o livro acompanha a lenta construção de uma autonomia frágil, em que cada gesto — levar a filha à creche, recusar um pedido do ex-marido, arrumar o apartamento depois de um dia difícil — ganha o peso de uma decisão decisiva sobre o tipo de vida que ainda é possível escolher.









