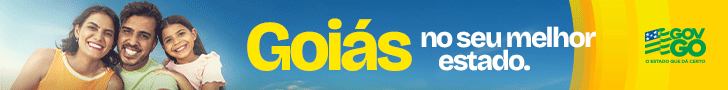Quando a paz se desintegra e as leis perdem seu efeito prático, o que sobra é a barbárie. Pessoas voltam a agir por instinto, e o que costumava ser uma sociedade torna-se a representação do caos mais absurdo. Ordenamentos jurídicos existem para proporcionar alguma tentativa de confiança entre os homens, mas a lei da selva é, ainda hoje, o único princípio ético a viger em muitos casos. A compaixão torna-se luxo. Ganha corpo uma lógica perversa, ancorada na força como razão e no medo como poder. Aqueles que conseguem se impor ditam a regra, os mais vulneráveis pagam um preço alto, altíssimo — às vezes com a própria vida —, a moral perece, tragada pela bruma do mais avassalador obscurantismo. Como resposta, floresce uma classe de indivíduos que, levados pela cólera e pela fome de reparação, instituem grupos de vingadores, alvo de louvor e repúdio.
Os vaqueiros americanos entram nessa equação como sacerdotes profanos e bárbaros da terra, mestres na alquimia de fazer do talento em lidar com o lado mais primitivo da natureza uma qualidade prezada não só por quem os rodeia, mas pelo povo da América como um todo, sendo ainda hoje uma peça fundamental no mecanismo gigantesco, complexo e implacável que é a economia dos Estados Unidos. O problema é que, da mesma forma como também acontece em outros segmentos da sociedade na América, seu prestígio e mesmo sua presença foram gradualmente apagados da história, restando apenas a sombra de uma época distante em que foram encarados sob a perspectiva dos grandes desbravadores que continuariam a ser, não obstante sua grandeza e mesmo o espaço físico que um dia ocuparam já fossem uma imagem pálida no horizonte da memória.
O faroeste continua mais atual do que nunca — e não só nos filmes. Essa categoria não só caiu no gosto do público como também foi de grande ajuda quanto a moldar a identidade cultural do cinema americano, projetando-se como um símbolo de aventura, conflito e transformação social. Ao longo dos anos, o western foi capaz de reinventar-se, seguindo de perto transformações políticas e estéticas e tornando-se referência obrigatória para qualquer estudo sobre a evolução da arte cinematográfica. A seleção que fizemos mescla os grandes sucessos do faroeste em épocas distintas. Figuram neste brevíssimo compêndio cinco produções do catálogo da Netflix e outras cinco do acervo do Prime Video, atravessando sete décadas marcadas por criatividade e experimentação, sem que, no entanto, ficasse relegada ao esquecimento a real natureza do gênero: o encontro do que pode haver de mais rude e mais elevado em nós.
 Kirsty Griffin / Netflix
Kirsty Griffin / NetflixFaz algum tempo que o faroeste, gênero cinematográfico genuinamente americano, vem se apresentando sob pontos de vista completamente inéditos. A adaptação de Jane Campion para a novela “The Power of the Dog” (1967), de Thomas Savage (1915-2003), nunca editada em português, revela, por exemplo, o componente homossexual de seu protagonista, Phil Burbank, de Benedict Cumberbatch. Seu pouco gosto para com as pessoas decorre do fato de ter perdido Bronco Henry, o amigo por quem se apaixonara, e nunca ter sido capaz de digerir essa grande tristeza. Peter Gordon, vivido por Kodi Smit-McPhee consegue identificar o problema e, a partir desse instante, o garoto enxerga em Phil o que Bronco Henry fora para esse seu contraparente a contragosto. Phil, por seu turno, também vai tendo o coração um pouco mais amolengado, se compadecendo do rapaz, querendo ensinar-lhe coisas. Inversamente ao que se tem em “O Piano” (1993), outra grande passagem do cinema em que o talento de Campion também se impõe, o envolvimento romântico entre Phil e Peter fica apenas subentendido, o que, por óbvio, se justifica em se considerando o contexto em que a subtrama toma corpo. Assim mesmo, o caso dos dois rouba as atenções, em especial por causa da forma como Rose se comporta frente à atração magnética de um pelo outro. A natureza perversa de Phil se manifesta mesmo quando a vida parece lhe dar boas razões para se emendar. Se antes o rancheiro via a presença feminina da personagem de Kirsten Dunst — a mulher com quem o irmão de Phil, George, de Jesse Plemons, se casara — à luz de uma ameaça que precisava combater, agora o perigo é ele próprio, de forma que seu interesse sincero por Peter soa como uma vingança, detalhadamente estudada, mas que receberá o contra-ataque devido. Vilão tornado anti-herói, o caráter dúbio do personagem de Cumberbatch é a cobra que ele nietzschianamente fez de questão de agasalhar em seu peito, e que agora está prestes a envenená-lo. Em 2022, “Ataque dos Cães” foi duplamente laureado pelo Globo de Ouro: ganhou os prêmios de Melhor Filme e Melhor Direção, para Campion.
 Divulgação / Netflix
Divulgação / NetflixEm 1870, o capitão Jefferson Kyle Kidd, viúvo e ex-combatente de duas guerras, ganha a vida cruzando o Texas a fim de ler para a população despachos sobre o que se passa em outras partes dos Estados Unidos e do planeta, muito menor século e meio atrás, oficio que logo terá de abandonar, uma vez que a imprensa do país se consolida rapidamente. No caminho, Kidd se depara com Johanna, uma órfã de dez anos que perdera a família num dos conflitos mais recentes e está à própria sorte, criada por índios e que não fala inglês. A menina, de imediato hostil a qualquer tentativa de aproximação, concorda em seguir com o cavaleiro, que primeiro a entrega a um casal de lavradores, mas acaba por incorporá-la a sua caravana de um homem só. Juntos, os dois enfrentam os mesmos perigos e vivem uma mesma vida, um se valendo do outro para curar sua própria alma. A sensibilidade de “Relatos do Mundo” foge à dureza do gênero — e por isso mesmo surpreende.
 Divulgação / Koch Media
Divulgação / Koch MediaBandidos de todos os coturnos têm experimentado um gosto de celebridade ao longo dos anos, ajudados pelas releituras históricas de determinados filmes que, além de falsas, fedem à mais descarada apologia ao crime.“Retorno da Lenda”, a começar do título, vai na direção oposta, glamorizando a figura de um ladrão de gado e de cavalos que, a pouco e pouco, foi estendendo e sofisticando seu raio de negócios escusos até acumular dinheiro o bastante para isolar-se num rancho em Baxter Springs, até hoje pouco mais que um vilarejo providencialmente esquecido pelas autoridades no extremo sul do Kansas, Centro-Oeste dos Estados Unidos. Isso é o que depreende-se da versão romanceada do filme de Potsy Ponciroli, um diretor tão low profile quanto talentoso, cujo roteiro adapta o pouco que se conhece acerca de William Henry Bonney (1859-1881). Billy the Kid, segundo os registros, morreu aos 22 anos incompletos, num tiroteio com Pat Garrett (1850-1908), o xerife de Lincoln, Novo México. Sam Ketchum, o delegado-chefe de uma aldeia em Oklahoma, pergunta pelo Velho Henry a Curry, o suspeito que tinha alvejado e arrastara por bons metros pela pradaria, um dos lances mais apreensivos de um enredo que alterna-se entre o drama e o suspense com cálculo, mas com emoção, mérito de Stephen Dorff e Scott Haze. Ketchum domina boa parte de “Retorno da Lenda”, mas quando o antimocinho de Tim Blake Nelson aparece, com seus conflitos éticos e seus dilemas existenciais que nunca se resolvem, sabe-se exatamente quem é que manda. Não obstante seu fim nada auspicioso, traído por um homem a quem dava guarida.
 Divulgação / Netflix
Divulgação / NetflixPersonagens imbuídos de um desejo de retaliação, que se atiram sem medo a uma jornada contra quem desestabilizou a harmonia do seu lar mediante um crime e maculou a honra de sua família com o sangue de um inocente nunca serão demais no cinema. A premissa se mostra verdadeira no momento em que se começa a listar algumas produções que se aprofundam sobre o argumento do acerto de contas, caso de “O Regresso” (2015), do diretor mexicano Alejandro González Iñárritu, provavelmente o filme mais impactante no gênero, com um herói que não sai um milímetro da linha, ainda que seja ultrajado de todas as maneiras possíveis. Malgrado também busque reparação pela desgraça que se abate sobre ele, o protagonista de “Vingança e Castigo” não tem nada de bom moço. A trama, debute de Jeymes Samuel no comando de um longa — Samuel já havia feito o curta-metragem “They Die by Dawn”, em 2013 —, não é um primor de inovação quanto ao gênero, mas o diretor se empenha em conduzir seu elenco afinado rumo a um épico de faroeste, uma das gratas surpresas de 2021, dada a originalidade com que constrói sua história. Sem dúvida, Jonathan Majors é uma das razões do sucesso do filme. Dando vida a Nat Love, o líder de uma gangue que assistira à morte brutal dos pais por Rufus Buck, do também ótimo Idris Elba, Majors revela, enfim, uma faceta de seu talento que passou batida para outros realizadores.
 Divulgação / Netflix
Divulgação / NetflixBuster Scruggs, um vaqueiro inconvencional, cruza o Velho Oeste cantando, jogando pôquer e bebendo hectolitros de uísque. Scruggs, o Sabiá de San Saba, como gosta de ser chamado, destoa completamente dos saloons cheios de homens mal-encarados, bêbados como ele, mas sem o menor pejo de arrotar à mesa, e isso o escandaliza. Esse caubói muito peculiar desliza por entre os trogloditas com a classe que lhe é natural enquanto ouve toda a sorte de pilhéria. Até que se cansa e mete uma bala na cara de um engraçadinho. A narrativa de “A Balada de Buster Scruggs” vale-se dessa reviravolta um tanto insólita a fim de contar uma história farsesca, calcada em paródias muito bem sacadas e recriações dos tipos lendários do cinema americano. Com o humor ácido e tão característico dos irmãos Coen.
 Divulgação / The Weinstein Company
Divulgação / The Weinstein Company“Os Oito Odiados” junta o faroeste clássico ao o teatro da crueldade. Ambientado num único cenário — uma cabana isolada durante uma nevasca em Wyoming —, o filme transforma o confinamento em um campo de batalha moral, onde cada personagem revela sua verdadeira natureza. O enredo acompanha o caçador de recompensas John Ruth (Kurt Russell), que transporta a prisioneira Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh) até a forca. No caminho, eles encontram o major Marquis Warren (Samuel L. Jackson) e o misterioso Chris Mannix (Walton Goggins), formando um grupo que logo se verá cercado por segredos, mentiras e violência. Tarantino constrói uma narrativa de ritmo lento e crescente tensão, sustentada por diálogos afiados e longas sequências de observação. A fotografia de Robert Richardson e a trilha sonora de Ennio Morricone (1928-2020), vencedora do Oscar, reforçam o clima sombrio e claustrofóbico. A violência explícita, marca registrada do diretor, surge aqui como instrumento de revelação moral, não mero espetáculo. Cada explosão de sangue é acompanhada por um discurso sobre racismo, vingança e hipocrisia, assuntos que americanos conhecem como poucos. A estrutura quase teatral e o humor negro conferem à obra um tom de fábula cruel, em que a justiça parece impossível e a verdade, relativa. “Os Oito Odiados” é, acima de tudo, uma reflexão amarga sobre a desconfiança e o ódio que moldam a sociedade. Tarantino transforma o gênero western em um espelho distorcido dos Estados Unidos, onde todos são culpados e ninguém é inocente.
 Divulgação / Warner Bros.
Divulgação / Warner Bros.Cada grão de areia, cada folha de cacto, cada escarpa de rocha guarda um pouco dos episódios inescapavelmente conflituosos protagonizados pelos vaqueiros americanos no transcurso de 250 anos, harmonizados aos trancos e barrancos à custa de sangue, suor, lágrimas e o aço dos revólveres, sempre em defesa da liberdade — sobretudo a sua própria. Mesmo a Constituição dos Estados Unidos inspira-se nesse arrojo dos caubóis, malgrado esse conceito, por natureza tão ambíguo, perca-se e degenere muitas vezes em justificativa para a intolerância, o ódio e o derramamento de sangue. O império da lei era ainda um cenário distante em 1880, quando se desenrola a história de “Os Imperdoáveis”; homens corretos, bandidos e meretrizes encontravam uma maneira qualquer para conviver em harmonia, e desses acordos tácitos nasciam relações que, não raro, sobrepujavam a morte. Ninguém melhor que Clint Eastwood para transcrever para o cinema, com a exatidão necessária, muito do que acontecia naqueles tempos obscuros. Alma do faroeste — e do próprio cinema americano pós-moderno — por excelência, Eastwood põe no chinelo muito antimocinho e quase todos os super-heróis que certos estúdios empurram goela do público abaixo, sem que este sequer pigarreie. O que se vê em “Os Imperdoáveis” é mais um dos tantos shows de interpretação de um ator começando a envelhecer, mas ainda no auge da potência física e da maturidade no ofício que escolheu, talvez o único em muitos anos a reunir essas duas qualidades fundamentais em seu ofício por quase setenta anos agora, e contando. Aqui, Eastwood dá uma de suas tantas provas quanto à dificuldade de se pregar rótulos em quem quer que seja, tanto mais se o objeto em questão forem brucutus de século e meio atrás.
 Divulgação / United Artists
Divulgação / United Artists“Quando Explode a Vingança” (1971) é dos westerns mais políticos e melancólicos de Sergio Leone (1929-1989). Ambientado durante a Revolução Mexicana, o filme une dois personagens de origens distintas: Juan Miranda (Rod Steiger), um bandido mexicano rude e pragmático, e John Mallory (James Coburn), um ex-revolucionário irlandês especialista em explosivos. O encontro entre ambos, marcado por desconfiança e ironia, dá origem a uma parceria ambígua que oscila entre o interesse, a amizade e o desencanto. Leone, conhecido pela estilização extrema e pela crítica à violência heroica do faroeste, cria aqui uma narrativa de tom mais sombrio e político. A revolução é mostrada não como um ideal libertador, mas como um processo corrompido pela ambição e pela traição. As cenas de ação, filmadas com o habitual rigor técnico e ritmo operístico, contrastam com momentos de silêncio e reflexão que revelam a humanidade dos protagonistas. A trilha sonora de Ennio Morricone, com seu tema melancólico e assobiado, dá ao filme uma dimensão lírica e trágica, reforçando o tom elegíaco da obra. Mais do que um simples “western de pólvora”, “Quando Explode a Vingança” é um filme sobre desilusões políticas e a perda da inocência. Leone encerra sua trilogia dos “faroestes políticos” com uma fábula amarga sobre o custo da revolução e o vazio deixado pela violência. A amizade entre Juan e John simboliza o encontro entre o idealismo e o instinto de sobrevivência, dois polos que, no fim, revelam o cansaço do herói e o desencanto de uma era. Trata-se de um épico poderoso e humano, no qual o riso e a tragédia caminham lado a lado sob o pó do deserto e o peso da história.
 Divulgação / Warner Bros.
Divulgação / Warner Bros.O que mais chama atenção em “Meu Ódio Será Sua Herança” é a ausência de cercas e muralhas na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Assim mesmo, a falta de grandes novidades no filme de Sam Peckinpah (1925-1984) jamais empanou o brilho do cineasta, um dos mais prolíficos da velha Hollywood, e aqui, o diretor sabe muito bem o que deve fazer para manter o interesse do público. Peckinpah lida com limitações parecidas com as de mestres do gabarito do John Schlesinger (1926-2003) de “Perdidos na Noite” (1969) ou do John Huston (1906-1987) de “O Tesouro de Sierra Madre” (1948) no gênero inaugurado por Edwin S. Porter (1870-1941) com “O Grande Roubo do Trem” (1903), mas se sai galhardamente, seguro ao conduzir seu longa pela espiral de reviravoltas algo pomposas que encantam a audiência. O diretor e o corroteirista Roy N. Sickner (1928-2001) absorvem do texto de Walon Green a natureza dos anti-heróis no tempo das diligências, retratando com fidedignidade o caos de uma terra sem lei. Peckinpah, o Bloody Sam, o Sam Sangrento, fez questão de bater de frente com os mitos mais caros ao inconsciente coletivo da América, o que custou-lhe ver seu trabalho voltar à sala de montagem após o lançamento comercial. Condenado por incitar uma violência que dorme em cada espírito humano desde o princípio dos tempos — e tanto pior naquela conjuntura —, o filme foi temporariamente proibido na Irlanda. Na Alemanha, a cópia em VHS suprimiu cenas inteiras, enxugando o resultado final em cerca de meia hora. A acusação de esteta do sangue, no entanto, não cabe. Os outros faroestes de Peckinpah, todos memoráveis, navegam pela diversidade de gêneros, o que qualquer crítico honesto pode reparar. Em 2018, a Warner Bros. anunciou um remake, a cargo de Mel Gibson e do corroteirista Bryan Bagby, mas a ver pelo tempo já transcorrido entre gesto e ação, Peckinpah continua incômodo. Ainda bem.
 Divulgação / United Artists
Divulgação / United Artists“Da Terra Nascem os Homens” é um épico do faroeste que se destaca menos pela ação e mais pela profundidade moral de seus personagens. Dirigido por William Wyler (1902-1981), o filme acompanha James McKay (Gregory Peck), um capitão da marinha que chega ao Oeste americano para se casar com Patricia Terrill (Carroll Baker), filha de um poderoso fazendeiro. Logo, McKay se vê envolvido em um conflito territorial entre duas famílias rivais, os Terrill e os Hannassey, mas recusa-se a adotar a lógica de violência e bravura que domina aquele ambiente. Wyler constrói uma narrativa de ritmo deliberado, em que o silêncio e o olhar têm tanto peso quanto os duelos. Gregory Peck interpreta McKay como um homem de princípios, cuja coragem é interior e não depende da exibição pública da força. Essa postura desafia o código de masculinidade do faroeste tradicional, tornando o filme uma crítica sutil à virilidade ostentatória e ao orgulho vazio dos homens armados. A fotografia de Franz Planer amplia a sensação de vastidão e isolamento, transformando o cenário árido em metáfora da alma humana. O elenco secundário, com Jean Simmons e Charlton Heston, oferece camadas adicionais de tensão e ambiguidade moral. “Da Terra Nascem os Homens” é, em essência, um western sobre a ética e o autodomínio, um elogio à dignidade silenciosa diante da brutalidade. Wyler transforma o gênero em reflexão filosófica sobre o poder, o orgulho e o verdadeiro significado da coragem.