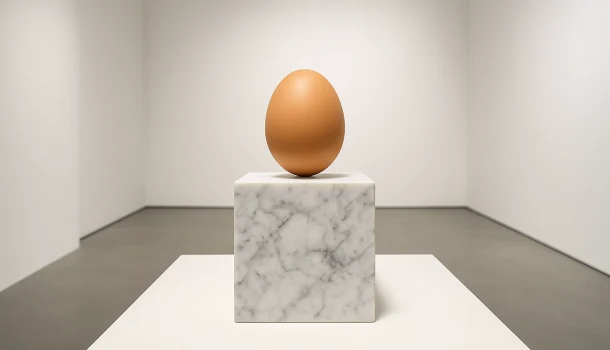Conhecida no mundo acadêmico e das letras, Aurora Bernardini criou polêmica ao questionar o estatuto literário do trio Itamar Vieira, Annie Ernaux e Elena Ferrante — e de todos, claro, que praticam o tipo de escrita em que o conteúdo prevalece sobre a forma. Foi para isso que chamou atenção, e não vem ao caso aqui discutir conteúdo e forma. Basta saber que a resposta ao comentário da tradutora partiu do meio mundo de escritores e escritoras empoderados, que reagiu da seguinte maneira: o conceito de literatura de Aurora é anacrônico, eurocêntrico, arrogante e excludente. Certa ou errada, Aurora jogou luz sobre um fenômeno cultural abrangente sobre o qual compensa refletir, se quisermos compreender nossa época. Veja o caso das artes visuais.
Você é daqueles que acham esquisita a arte ocidental dos últimos sessenta anos? É também, por outro lado, daqueles para os quais a arte marginal, comparada ao que se via exposto, sempre foi arte ao pé da letra? Sobre a primeira questão, a polêmica arte ocidental dos últimos sessenta anos não era um beco sem saída, apesar de exorbitar nas excentricidades. Quanto à segunda, a arte “marginal” — agora entre aspas — virou literalmente o jogo, disputando a centralidade, os interesses, os holofotes. O que parece ter acontecido é que, ante a impossibilidade de a arte ir além do que já conhecíamos — que gênero ou esquisitice ainda poderia ser inventado? —, a saída encontrada foi abrir as portas do panteão para grupos e artistas que até o momento haviam sido marginalizados, no interior do próprio sistema ou fora dele.

Quando o Ocidente entra em crise — ou melhor, quando os Estados Unidos e Europa estão em crise, como agora — a saída costuma vir de fora da caixinha. Pelo menos esta é a segunda vez, desde mais ou menos 1890, que o fenômeno é observado. A descoberta da alteridade, em arte, não é de agora. Ela é produto do século 19, da expansão do colonialismo europeu pelo globo. Produto também, naquela época, de duas ciências emergentes: a sociologia e a antropologia. Esse foi o mundo em que viveu o pintor e explorador holandês Paul Gauguin, pioneiro europeu entre os habitantes de um lugar totalmente fora do circuito: o muito, muito distante Taiti. Depois veio o cubismo, com a descoberta da África. Picasso só existe porque existiam máscaras africanas. Desde esse encontro com a alteridade, a arte ocidental passou por uma revolução da forma tão profunda que Rafael ficaria talvez escandalizado com a técnica “grosseira” dos modernos.
Eu disse “arte ocidental”, porque acontece o seguinte: as máscaras africanas — a própria arte africana em geral — continuaram indo parar nos museus de antropologia e ciências naturais, mas não nas galerias de arte de Berlim, Paris ou Nova York. A alteridade havia sido descoberta e seu ensinamento fora absorvido por homens brancos como Pablo Picasso — mas os artistas de cor, africanos ou taitianos (seja lá de onde eram, fora do eixo), continuaram excluídos e sem qualquer reconhecimento público nos centros da arte ocidental.
Sob uma nova crise, essa arte redescobriu no século 21 a alteridade, desta vez de uma forma mais direta e radical que a de Pablo Picasso: em vez de apenas se apropriar de seu senso estético invulgar, permitiu que os próprios artistas daqueles lugares entrassem nas galerias europeias e norte-americanas para expor o que eles próprios criavam, segundo sua própria ideia de arte. Olhe alguns dos nomes em evidência: Sadikou Oukpedjo, Aislan Pankararu, Huma Bhabha, Rirkrit Tiravanija, Mohamed Melehi, Gōzō Yoshimasu, I Gusti Ayu Kadek Murniasih… Isso é novo e sintomático: no lugar de artistas convencionais, oriundos da área geografia ocidental e formados por sua cultura aparentemente esgotada uma segunda vez, abriu-se uma avenida para a arte bastante conhecida dos “marginais” — uma arte bem antiga (ancestral é uma palavra muito apropriada para defini-la).
Há dois tipos de ex-marginais, aqui: 1) países que nunca tinham sido reconhecidos como agora, porque agora não constituem apenas uma curiosidade ou exotismo de bienais, como no passado, e 2) gêneros e identidades que nunca foram maioria no consenso social — o que inclui mulheres, gays, índios, negros etc., com suas próprias mundividências (aquilo que os alemães chamam Weltanschauung, ou “visões de mundo”). Na cena artística contemporânea essas pessoas e esses países desfilam em galerias e museus, disputando-os em pé de igualdade com a arte ocidental, feita de (e por) pessoas brancas e “civilizadas”: refiro-me a artistas “convencionais” como Robert Longo, Luc Tuymans, Marlene Dumas, Beatriz Milhazes etc., etc. Porque, claro, há espaço também para os herdeiros da grande tradição ocidental. O diálogo de Anselm Kiefer com a obra de van Gogh é das coisas mais interessantes que temos hoje em dia.
Enfim, diversidade é a palavra. Diversidade é a nova convenção. E o que entendíamos por arte não resume mais o que é a arte: um conceito aberto, muito amplo e muito relativo, capaz de abranger mais coisas — coisas que estavam aí, mas que antes ignorávamos solenemente, porque a cultura europeia e norte-americana não estava em crise.
A diversidade é tão óbvia que até o conceito de grandes exposições internacionais mudou. Antes existiam apenas as bienais (de São Paulo, Veneza, Paris), agora as feiras internacionais de arte rivalizam com as bienais, sendo a Art Basel a principal, criada em 1970. São cinquentenárias, mas a primeira bienal ocorreu em Veneza em 1895. Essas continuam a ter uma curadoria-geral que dá a linha expositiva, mas flertam com a lógica das feiras emergentes, onde galerias — um punhado — montam inúmeros estandes abertos aos galeristas, como literalmente se faz nas feiras de qualquer negócio. O que essas feiras politicamente corretas têm mais em comum, entre si, é a arte negra, feminina (e feminista), indígena, feita às vezes por coletivos. Há de forma explícita um recorte político, uma narrativa e uma militância por trás de inúmeras dessas expressões. É inquestionável que a arte — qualquer uma de suas expressões — virou lugar de fala e legitimação.
Mas esse conteudismo implica mesmo ausência de forma, como sugeriu Aurora Bernardini? Com certeza há conteudismo demais, mas é preciso olhar caso a caso. Muito do que a diversidade revela é forma, embora uma forma que não fora categorizada pelos estetas ocidentais, daí sua estranheza congênita, para nós. São “saberes” e estilos que nada ou pouco têm a ver com as chamadas vanguardas históricas ou com o que se viu na pós-modernidade ainda ocidentalizada, pós-1960. Parece às vezes puro design, outras vezes lembra a arte sem inibições dos loucos e desajustados. Ou ainda simples artesanato, com sua estética naïf de feira livre, posta em destaque com a mesma dignidade de um Andy Warhol. Teria a aprovação de dadaístas muito pessoais como Francis Picabia, cuja pintura “sui generis” combina com muita coisa que faz sucesso nas feiras e galerias. (Aliás, a pintura nunca esteve tão na moda.)
Uma coisa importante é saber até que ponto há autenticidade, nesse movimento, ou até que ponto é puro artificialismo (ou conformismo) de mercado, uma vez que há consumidores autênticos para essa arte. Ou seja, até que ponto essa diversidade apoteótica não é uma concessão do próprio universo euro-norte-americano em crise, para com sociedades e grupos identitários que continuam sendo duramente explorados e discriminados. Quem, ao seu bel prazer, determina esse tipo de situação? Galeristas internacionais como Thaddaeus Ropac, David Zwirner, Gagosian, Paula Cooper? Bienais como a de Veneza, que na edição de 2024 — sob a elogiada curadoria do brasileiro Adriano Pedrosa — escancarou a diversidade começando pela fachada, com a pintura mural dos acreanos do MAHKU (Movimento dos Artistas Huni Kuin)?
Uma coisa é certa: essa percepção do fato estético depõe contra a ideia de “arte” como algo metafísico e pré-estabelecido, descida dos céus. Parece óbvio, mas arte é um conceito cultural: nunca foi monopólio dos povos civilizados, afinal tão generosos com aqueles que assim acreditam, por convicção ou, apenas, oportunismo.