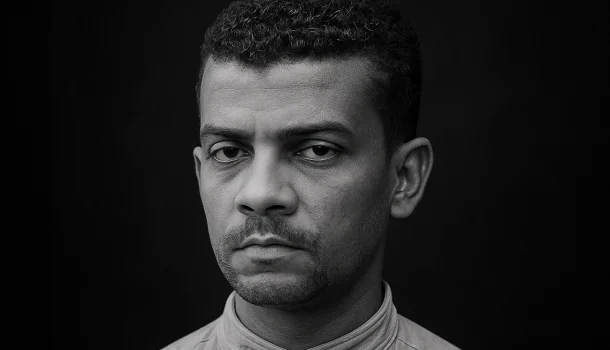O dia se abre no balanço metálico da Central do Brasil; o apito rouco costura o vapor nos vidros. Em 1915, na Primeira República, “Triste Fim de Policarpo Quaresma” sai em livro e Afonso Henriques de Lima Barreto, amanuense na Secretaria da Guerra desde 1903, atravessa de trem o corredor das estações. Um menino de mochila torta divide o banco com um funcionário de terno gasto; pela janela, o subúrbio passa e afia a memória. Ao lado, um leitor dobra a capa do romance; o mapa da cidade se dobra junto e as rotas do centro cedem passagem às paradas longínquas. A cidade entra no expediente com um livro no bolso e Lima permanece no vaivém, escrevendo dali, longe do verniz dos salões, com a urgência de relógios que teimam em atrasar nos trilhos.
Antes de caber em planos de aula, Afonso Henriques de Lima Barreto aprende a cidade pelo trajeto. Morador de Todos os Santos, na Zona Norte, embarca todas as manhãs nos trens da Estrada de Ferro Central do Brasil em direção às repartições junto à Praça da República. Na ida e volta, entre bancos de madeira e pregões de plataforma, recolhe vozes e pequenos atropelos que voltam com pequenas variações. O subúrbio, fora do cartão-postal, vira laboratório e contraplano; dessa travessia nascem as escolhas: observar em movimento, escrever em trânsito, ouvir a sintaxe de quem não dita o passo do centro. O que muitos chamariam de cenário não é moldura; é o que move a cidade. Pela janela, a paisagem social se revela em gradações de humilhação e esperança, fachadas de tinta cansada, um orgulho que prefere o silêncio.
O emprego vem cedo e a literatura vem junto. Antes daquele amanhecer de 1915, nos primeiros anos do século 20, já na repartição onde servia, ele passa o dia curvado sobre livros de protocolo, copiadores e papéis timbrados com o brasão da República; a caneta serve a dois patrões, o sustento e a ficção. Copiar ofícios, ouvir o arrasto das gavetas, administrar chefes de mau humor: tudo vira cadência de frase. Sua prosa absorve a fadiga dos carimbos e a ambiguidade do documento que ordena e justifica. É ali, não num gabinete acolchoado, que a frase encontra medida: direta sem simplificar, irônica sem autoencanto, afinada à fala comum que décadas depois parecerá modernista sem pedir senha a desfile algum. Quando o expediente se apaga no miolo da cidade, a escrita continua, na volta, em folhas baratas e anotações que guardam o pó do caminho.
Em 1909, com “Recordações do Escrivão Isaías Caminha”, publicado em Lisboa, Lima arrasta a redação para a luz dura: a imprensa aparece como engrenagem de favores e hierarquias de rebaixamento, um filtro de seleção racial. A questão não surge como adjetivo moral, mas como critério de acesso. Lido hoje, o livro ainda corta. Em vida, esse corte cobrou preço: resenhas atravessadas, silêncios de caderno cultural, fechaduras que não cederam. O autor tentará por três vezes a cadeira na Academia Brasileira de Letras; nenhuma candidatura prosperará. Não é desacordo de gosto: é a marca de cor e de classe incidindo sobre a instituição que dizia zelar pelo idioma.
A sequência não abranda: o que Lima escreve é, antes de tudo, um homem tentando permanecer inteiro. Em “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, o patriota carrega uma paciência ferida; deseja um país que responda por sua palavra e encontra repartições que engolem a voz. O nacionalismo chega como febre que não cede, e o Estado, com léxico reto e dossiês, rubrica esperanças até que percam o nome. A força do livro não está no excesso, mas na variação sutil dos gestos: a carta protocolada, a fila que anda, o chefe cortês que desvia o olhar; quando a roda parece aplainar-se, é a própria correção que o amassa. Depois, em “Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá”, entra um afeto que Lima raramente exibia em público: a amizade como abrigo e lâmpada. O veterano descreve ruas e salas com doçura seca, e o narrador mais moço aprende a caminhar por salas oficiais, bibliotecas, funerais discretos, esquinas que lembram datas e esquecem gente. Há ternura e raiva na mesma frase, e é esse homem, fatigado, curioso, vulnerável, que observa a cidade e a devolve sem cosmética ao leitor.

Antes e depois de 1919, nada disso impede o escuro. Em 1914, os portões de ferro do Hospício Nacional de Alienados se fecham atrás dele; a ficha de entrada recolhe nome, idade, ofício e residência, e a caneta que servia o Estado agora descreve o corpo do escritor. Corredores altos, paredes caiadas, cheiro de creolina, passos que reverberam no azulejo; no pátio, o vento chega enfraquecido, sem notícia de rua. Em 1919, ele retorna, agora em outro pavilhão do sistema manicomial do Rio, um complexo que acende luzes cedo e recolhe tarde. Dali saem “Diário do Hospício” e “O Cemitério dos Vivos”: não confissão, mas trabalho de consciência diante da instituição. Os cadernos anotam a rotina que dobra os dias, a enfermaria onde se partilham remédios e silêncio, a vigilância que mede gestos, a autoridade satisfeita de si, a vergonha que visita de madrugada e não pede licença. Lidos com atenção, esses textos pedem cuidado: falar de saúde mental exige contexto e voz baixa. Ele oferece os dois. Há ternura seca pelos que dividem a cama estreita e o pão contado, há ironia contra a ciência do tempo, há coragem de nomear o que fere sem exibir a ferida. O que poderia afundá-lo vira forma; a experiência busca a frase que sustente a dignidade e não negocie com o espetáculo. É o momento trágico: um homem cercado por chaves escreve para não se perder de si.
Se a recepção em vida foi estreita, o tempo não devolve o que negou; quando muito, deixa a porta entreaberta. Por essa fresta entra o país, de passo contido, para reler o homem que empurrou para fora de cena. Francisco de Assis Barbosa recompõe os dias e devolve ao arquivo uma respiração; em 2017, “Lima Barreto: Triste Visionário”, de Lilia Moritz Schwarcz, recoloca as peças no pós-Abolição e expõe, com calma firme, a velha engenharia do veto. Nas mesas de trabalho, abrem-se volumes de lombada refeita, papel áspero e notas marginais; nas festas de literatura, o burburinho se aquieta; nas edições recentes, o aparato crítico não lixa a aspereza. Não há triunfo aqui, há vigília. O reconhecimento tardio não fecha a ferida, mas impede que se fechem os olhos: ler Lima hoje é vigiar a repetição.
A presença de Lima hoje não é ruído de agenda. Entre 1881 e 1922, atravessou o pós-Abolição com uma ética de olhar que ainda constrange. Em uma noite de sarau, quando as cadeiras de plástico rangem e a luz amarela derrama sombra nos rostos, não ecoam apenas citações; entra a figura de um homem que aprendeu a dizer não sem gritar e a nomear injustiças sem humilhar. Ele representa quem chegou por fora e, ainda assim, recusou pedir licença; quem suportou o riso alheio sem transformar a raiva em espetáculo; quem fez da ironia um modo de pensar, e não um truque. É por isso que sua atualidade ultrapassa as páginas: leitores de ônibus reconhecem o passo curto e a cabeça erguida, auditórios de bairro suspendem a conversa quando a lembrança dele entra, jovens com cadernos no colo descobrem que é possível escrever com ternura e precisão ao mesmo tempo. A importância desse homem está menos no catálogo e mais na ética encarnada: o compromisso de olhar de perto, a recusa do brilho fácil, a coragem de sustentar o próprio lugar no mundo; quem o lê hoje não procura monumento, procura companhia.
O que parecia palavra gasta reencontra peso no homem e nos livros. Reunidos, esses livros montam um Brasil urbano em construção, moderno no discurso e antigo no balcão de sempre, regulado por regras que não estão no Código e por portas que cedem um palmo e travam. Não há proclamações; há um rosto que atravessa salas e bondes e, ao fim do dia, aprende a chamar cada afronta pelo nome.
Na madrugada de 1º de novembro de 1922, em uma casa modesta de Todos os Santos, o coração falha. Quarenta e um anos. Colapso cardíaco. Sobre a mesa, cadernos e livros abertos; na vizinhança, passos contidos no corredor. Dias depois, o pai morre. O caixão desce no São João Batista. No mesmo ano, em fevereiro, São Paulo celebrou novidade no seu Theatro Municipal; no fim desse calendário, o Rio perde o homem que vinha escrevendo o país fora do foco.
E então o fim encontra forma. O apito distante da manhã parece voltar, e a página, já fechada, continua a mover a cidade. Não há milagre nem reparo que quite a ausência. Há o subúrbio de respiração curta, galerias públicas ainda cheias de protocolos de praxe, e a lembrança de um homem que preferiu lucidez a cerimônia e fez da língua um abrigo contra a humilhação. A literatura que nasceu em trânsito permanece de pé nas mãos de quem atravessa a cidade; o trem chega, o leitor guarda o livro, a vida recomeça. No vão entre uma estação e outra, Lima Barreto continua, não estátua, mas presença, e a cidade, sem pedir licença, lê seu próprio rosto.