Mar del Plata, madrugada de 25 de outubro de 1938. O Atlântico marca segundos no concreto da Rambla La Perla. Uma mulher atravessa a cidade quase vazia, casaco junto ao corpo, mão no corrimão frio, cheiro de iodo e ferrugem. A mulher tem nome: Alfonsina Storni. Em 22 de outubro, um envelope seguiu para Buenos Aires; na redação do “La Nación” repousa um poema que pede uma lâmpada à cabeceira. Agora o corpo, cicatrizado e desconfiado de si, escolhe a marcha com a discrição de quem já decidiu. Nos bolsos, uma vida que não coube em vitrines nem em catecismos. Buenos Aires guarda o envelope; Mar del Plata abre a porta. O que era margem nos livros vira caminho. O mar diz o resto.
De Sala Capriasca, na Suíça, ao estuário do Prata, ela chega criança na última década do século 19, quando navios lotados de sotaques italianos e suíços procuram trabalho nas províncias argentinas. A família tenta a vida em San Juan e depois em Rosario: o pai arrisca uma cantina, a mãe soma costuras, e a menina aprende que abrigo se improvisa com bancada torta, cama de ferro, caderno barato. Quando o pai morre e o dinheiro rareia, instala-se a rotina do salário: chapéus enformados, balcões de escritório, giz que resseca os dedos nas aulas. À noite, o caderno recolhe o resto do dia e a vontade de não desaparecer, rascunhos que mais tarde hão de desembocar em “La Inquietud del Rosal” (A Inquietude do Roseiral, 1916). Aos dezenove, Buenos Aires, acesa por bondes e vitrines, oferece o que parece suficiente: escola normal, jornais que pagam por coluna, aluguel quitado no fim do mês. Ela vai, grávida e só, e estabelece uma sobrevivência obstinada: o filho, Alejandro; as aulas que garantem o pão; a mesa coletiva da pensão; e a escrita que entra quando todos dormem, num canto de madeira, no intervalo entre turnos.
Entre 1916 e 1938, nos cafés barulhentos e nas vitrines da calle Florida, não entra apenas mais um nome no catálogo modernista: irrompe um “eu” com corpo, salário, desejo e contradição. Em “Tú me quieres blanca” (Tu me queres branca), a voz lírica recusa o pedestal e devolve o tribunal a quem o ergue; em “Hombre pequeñito” (Homem pequenino), miniatura feroz de jaula, a ironia revela a escala do cativeiro. Esses poemas não enfeitavam o modernismo de salão, cortavam. O impacto veio em mão dupla: visibilidade e cobrança. Enquanto ganhava leitores, uma guarda de bons costumes respondia com caricaturas e resenhas que colavam no escândalo e ignoravam o resto. A capital vivia o atrito entre vanguarda e moral vigilante, jornais amplificando o embate. Ela não recuou.
Os livros se sucederam como quem gira a câmera sem largar o assunto. Em “La Inquietud del Rosal”, a música ainda roça os corredores de pensão e o papel cheira a tinta fresca de tipografia; logo adiante o tom se enrijece, como quem aprende a falar mais baixo para ser mais ouvido. “El Dulce Daño” (O Doce Dano, 1918) e “Irremediablemente” (1919) afiam o registro: o sentimental é atravessado pelo corpo, a raiva encontra forma breve. “Languidez” (1920) recalibra a temperatura. Com “Ocre” (1925), a cidade entra de sola; é cor de ferrugem, diário de transporte e salário, uma lírica feita de metal, relógio de ponto, talheres batendo na copa da escola. “Mundo de Siete Pozos” (Mundo de Sete Poços, 1934) desce um lance: prosa e poema combinam para olhar por dentro os encanamentos, os porões, as veias de Buenos Aires; o verso aprende a ser vertical. E “Mascarilla y Trébol” (Máscara e Trevo, 1938) acende lâmpadas de oficina: máscara como instrumento de sobrevivência, trevo como ironia da sorte, a autora afinando o corte e retirando ornamentos até que reste a lâmina. Ao longo desse percurso, a mesma mão: uma artesã que prefere fricção a verniz, que troca o arabesco por precisão e faz do ritmo uma respiração da cidade.
A recepção é um salão iluminado por lâmpadas quentes, com mesas de mármore, fumaça de cigarro e o tilintar das xícaras. Buenos Aires discute poesia entre vitrines da calle Florida e linotipos que ronronam nos fundos das redações. Nesse circuito, uma etiqueta se cola como poeira: “literatura feminina” empurrada para a prateleira de baixo. Em “Nosotros”, Roberto Giusti a chama de “maestrita cordial” antes de promovê-la, com mão paternal, a “autêntico poeta”. O vanguardista González Lanuza anota que “seu sexo constituía uma trava”. As revistas ilustradas desenham caricaturas, os suplementos repetem os mesmos adjetivos polidos, e a gradação da condescendência vira moda. Tudo isso diz menos sobre os versos do que sobre a sala onde eram lidos: um clube masculino que preferia a poeta cabível à poeta inteira.
Os anos 1930 na Argentina, a chamada “Década Infame” (1930-1943), cheiram a tinta de tipografia e café requentado. Linotipos roncam nos fundos das redações, bondes riscam a noite, a polícia ronda com educação severa. As eleições se curvam, os discursos prometem ordem como verniz novo sobre móvel gasto; governos trocam a assinatura e mantêm o aperto nas dissidências. Nesse ar de cortina pesada, a presença de uma poeta que escreve no jornal e dá aula não é ornamento: é interferência, ruído necessário dentro do salão.

1935. A palavra câncer ainda se diz em voz baixa nos consultórios de Buenos Aires. O diagnóstico redesenha o mapa do corpo e da cidade: éter no ar, curativos que puxam a pele, a camisa adaptada, a mão que hesita ao fechar os botões. A cirurgia deixa uma ausência que não cabe no espelho. Ela volta às aulas e ao jornal, mas carrega na bolsa uma vigília nova, feita de exames, filas, cartas curtas. A medicina oferece protocolos severos e pouco consolo; a moral pública, silêncio. A dor entra na escrita, não como confissão, mas como dicção: frase mais curta, imagem com borda, economia que não perdoa. Em 1938, a suspeita de recidiva reacende o alarme. Mar del Plata deixa de ser veraneio alheio e vira sala de espera; o mar troca de papel, sai do fundo do quadro e vira endereço. Nos poemas, a água aprende verbo: avançar, cobrir, aquietar ruídos. Onde falta fala, a página fala por ela.
Sábado, 22 de outubro de 1938. A primavera costeira sopra fria em Mar del Plata e, em Buenos Aires, as redações trabalham com a pressa dos últimos bondes. Ela senta, dobra o papel, escolhe a caneta com a calma que as clínicas já não lhe concedem; a palavra recorrência circula em voz baixa, o corpo é território de susto e paciência. O poema que segue para o “La Nación” não tem trombetas nem bilhetes cifrados: chama-se “Voy a dormir” (Vou dormir) e adota a gramática das coisas simples, como quem arruma um quarto. Pede uma lâmpada à cabeceira, pede ordem na penumbra, pede que o mundo se recolha para que a noite caiba inteira. Os imperativos são suaves, domésticos; a voz ergue um ritual de despedida em objetos de uso diário e, de repente, a casa encosta no infinito. Escrito dias antes, remetido naquele sábado e publicado no jornal em 26 de outubro, após a morte, o poema fixa a cronologia e, ao mesmo tempo, a transborda: enquanto o país atravessa a década do verniz moral e do rumor de crise, uma mulher organiza o fim como quem prepara a mesa, dobra o lençol, baixa a luz. Quando o envelope se fecha, nada é grandiloquente; ainda assim, tudo cresce de tamanho. O mar já está no texto, e do texto sairá para a madrugada de 25 de outubro.
Horas depois, enquanto em Buenos Aires o envelope de “Voy a dormir” repousa numa gaveta de redação, Mar del Plata respira vento salgado e pedra fria. Ela desce à Rambla La Perla com passos contidos, casaco junto ao corpo, o rumor do Atlântico marcando os segundos. Há duas narrativas e ambas iluminam o gesto por ângulos distintos: uma a imagina entrando devagar na água, como quem atravessa um quarto escuro; a outra, sustentada por registros locais, aponta o salto desde a escollera do Club Argentino de Mujeres, quebra-mar que avança sobre o oceano. As versões não se anulam, apenas mudam o desenho da cena. Em qualquer delas, a noite encontra seu ponto final do lado de dentro da água, e a literatura fecha o circuito entre página e mar. O jornal publicará o poema depois da notícia; por ora, só as ondas testemunham a escolha.
No fim dos anos 1960, enquanto a Argentina mede a voz em palcos e sussurra nas ruas, rádios de mesa chiando nas cozinhas, a história ganha música. Em 1969, Ariel Ramírez e Félix Luna entregam uma zamba que vira travessia: “Alfonsina y el Mar”. Mercedes Sosa a estreia em “Mujeres Argentinas” e, com o contralto que parece vir do chão, transforma um caso singular em vigília pública. O piano desenha maré, as cordas respiram como ondulação e cada “te vas Alfonsina con tu soledad” convoca um cortejo civil até a rebentação. Não é epitáfio nem souvenir: a canção devolve a figura ao lugar de escritora, abrindo um caminho de volta aos livros que a lenda costuma encobrir. No Brasil, vale começar por “Sou Uma Selva de Raízes Vivas: Antologia Bilíngue” (Iluminuras, 2020), tradução e seleção de Wilson Alves-Bezerra.
A grandeza de Storni não se ergue em bronze. Está no deslocamento que impôs à língua rio-platense, capaz de dizer a experiência feminina sem pedir licença. O que a tradição empurrava para o rodapé, salário, maternidade, desejo, tédio, raiva, vira matéria de poema e, ao mesmo tempo, desenho de forma. Quando o modernismo tolerava enfeites e afastamentos, ela encurta a frase, raspa o excesso, ajusta a mira. A lírica trabalha com precisão e comedimento: cortes limpos, imagens que não pedem legenda, uma ironia que prefere a voz baixa. Se hoje tantas autoras cabem em primeira pessoa sem pedir passagem, é porque sua obra deslocou a fronteira do que pode ser dito e por quem.
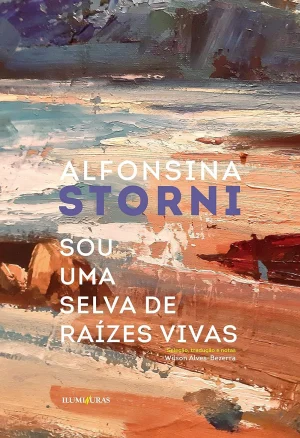
Ela tratou palco e imprensa como extensões da página. Deu aulas, circulou por jornais e revistas, ensaiou peças, debateu em público, errou e corrigiu com a mesma disciplina do verso. Autora pública num meio que, quase sempre, preferia mulheres em silêncio, respondeu às acusações de “excesso” com livros que deslocam o assunto da conversa. Em “Peso ancestral” e “Cuadrados y ángulos” (Quadrados e ângulos), a técnica substitui a palavra de ordem: imagens enxutas, cortes secos, urbanidade sem verniz, uma ironia que opera em voz baixa. Nada de cartazes. A persuasão acontece no que o verso faz ver e ouvir.
Reler “Ocre” é encontrar ferro e ferrugem na página: cor de fábrica, pulso seco, palavras guiadas como quem lixa o excesso. A autora regula a temperatura entre o sensual e o áspero, troca o enfeite por precisão e observa o mundo item por item, sem embalagem. Em “Mundo de Siete Pozos”, a câmera baixa e verticaliza a cidade: poços, veias, canos, túneis; a prosa encosta no poema e o verso assume o peso das coisas, como se escutasse a vibração dos encanamentos. “Mascarilla y Trébol” (1938) escreve de frente para o fim com lucidez de oficina: máscara como ferramenta para atravessar o dia, trevo como ironia contra a superstição. Nada se derrama. A forma trabalha por ela, por corte e economia, e a poeta aparece inteira no ofício, artesã de si.
A morte passa, faz sombra e segue; não confisca o essencial. Ficam a lâmpada pequena, a mesa marcada, o caderno com sal seco. Em Storni, permanece uma língua rente ao chão que chama as coisas pelo nome, salário, filho, cansaço, desejo, e uma primeira pessoa inteira. A técnica é quase invisível: cortar o excesso, guardar o que respira, encostar a imagem na vida e deixá-la falar.
O mito suaviza as arestas e cobre as farpas. Entre a canção que o país sabe de cor, o mar que respira pesado e a madrugada de passos contidos, há beleza e risco. Ler com atenção é abrir a janela, deixar o ar entrar e ainda assim sustentar o arrepio. O que importa é ver a escritora de vigor preciso, trabalhadora da cultura, que moveu a fronteira do que a poesia pode quando a vida pede palavra. Se a lenda insiste, que fique na antessala; por dentro, os livros sustentam o peso.
1938. Uma lâmpada pequena acende o quarto, a caligrafia é firme, o envelope de “Voy a dormir” repousa numa gaveta do “La Nación”. Em Mar del Plata, Rambla La Perla, pedra fria, corrimão úmido; 25 de outubro, madrugada, o Atlântico como porta. 1969. A zamba “Alfonsina y el Mar”, de Ariel Ramírez e Félix Luna, na voz de Mercedes Sosa, transforma o luto em vigília pública. Hoje, quem abre esses volumes acende de novo a mesma luz sobre a mesa e ouve, ao fundo, o chiado de redação e o vaivém da maré. Que a canção continue cantando; é a leitura que mantém a autora inteira fora do anedotário. E a nossa língua regressa da água mais nítida, com sal nos lábios, pronta para o trabalho.







