Foi num curso sobre Emil Cioran, em 2016, na Casa das Rosas — casarão plantado como flor em espinho na Avenida Paulista — que começou este texto. Devo essa fagulha ao Pedro Costa, colega de ofício e de inquietações, professor de filosofia com alma grega e verve flamenguista, que falava de Cioran como quem apresenta um veneno necessário: com fascínio, respeito e leve perversão. O curso não terminava nas cadeiras da sala. Continuava num boteco — desses que resistem como tristes samurais ao asséptico dos Jardins — em frente ao edifício Nações Unidas, onde eu morava, do lado da Livraria Martins Fontes, então meu templo. O bar, de balcão engordurado e garçons com cara de Beckett, era de alma limpa: bastava uma conversa sobre Nietzsche ou Drummond para alguém acender outro cigarro. Eu, à época, obeso, exausto e recém-casado, dividia meu corpo entre duas escolas confessionais — uma judaica, outra católica — e minha alma entre o metrô Sumaré e as marginais. Lendo no trânsito, escrevendo pouco, vivendo em retalhos. A cerveja eu bebia por educação; nunca gostei. Preferia o Marlboro Light, companheiro fiel que me amparava enquanto os outros dividiam baseados que eu recusava com elegância metodista. Drogas ilícitas nunca me serviram: sempre me vi como um lorde inglês travestido de beatnik, um dândi proustiano com planos malucos, professor com coração do filme “Ao Mestre com Carinho” e a retórica de um missionário pagão: contradição e paradoxo sempre me marcaram. Sem me decidir entre Apolo e Dionísio, dançava entre ambos. Foi nesse caldo — de angústia, excesso, bibliotecas, buzinas, noites sem janta e cafés malpassados — que “Fahrenheit 451” entrou em combustão comigo. Bradbury e Cioran se olharam na minha cabeça como dois conspiradores. E eu, seu receptáculo inflamável.
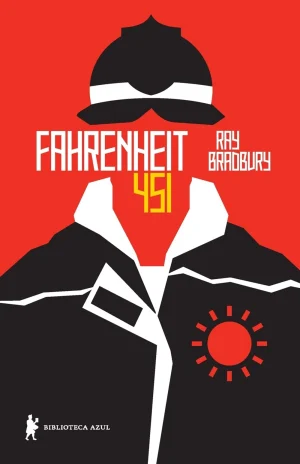
Há livros que ardem no instante em que os lemos. E não por causa de suas páginas inflamáveis, mas pelo que incendeiam dentro de nós. “Fahrenheit 451” é um desses raros artefatos de combustão interna. Publicado em 1953, no início da Guerra Fria, em plena histeria macarthista, Ray Bradbury ergueu com ele um monumento contra a idiotia coletiva e o conforto do esquecimento. Um romance distópico, e também um lamento civilizacional, elegia do pensamento em tempos de entorpecimento voluntário. Escrito na biblioteca Powell, num porão de silêncio e resistência, nasceu como crítica à censura e defesa apaixonada dos livros, da memória e do indivíduo que ousa pensar.
Em linhas rápidas: estamos diante de uma América futura, entregue ao hedonismo e ao analfabetismo emocional. Os livros foram proibidos. A cultura virou ruído. O prazer é uma anestesia. Os bombeiros — como Guy Montag, o protagonista — não apagam incêndios, eles os provocam. Queimam bibliotecas, páginas, ideias. Queimam Shakespeare, queimam Faulkner, queimam Whitman. A televisão tomou o lugar da experiência. A introspecção virou crime. Os que resistem escondem-se, memorizam livros inteiros, transformando o corpo em abrigo da literatura. São os novos monges do deserto, em exílio interior e contemplação ativa.
Bradbury, em entrevistas tardias, rejeitava a leitura de seu romance como uma denúncia direta da censura estatal. Atribuía à televisão — e não ao governo — a grande ameaça à leitura. O que ele visava era sutil e grave: o adormecimento voluntário do espírito crítico. A lenta erosão do silêncio, da dúvida, da escuta. O horror de uma sociedade que troca a complexidade da literatura pela fluidez inócua do entretenimento. “Fahrenheit 451” não nos mostra uma distopia que nos escraviza: mostra uma distopia que nos seduz.
Por isso a leitura do romance traz ecos de Emil Cioran. Naquela atmosfera onde pensar é patológico e o vazio é regra, lemos como se estivéssemos diante de uma civilização prestes a se dissolver em sua própria indiferença. “A história é o produto mais perigoso que a química do intelecto inventou”, escreveu Cioran. Bradbury concorda, vai além: quando o homem abdica da memória, entrega-se à repetição do erro. A história, desprovida de leitores, torna-se ruína sem testemunho. E onde não há testemunho, não há salvação possível, apenas sobrevivência vegetativa.
Há uma desesperança contida no livro, nunca resignada. Bradbury, ao contrário de muitos autores de ficção científica, não acredita na tecnologia como fábula redentora. Sua aposta está no humano que ainda sangra. Montag é a imagem desse humano em combustão: um servidor do sistema que se vê traído pelas próprias chamas. Sua lenta tomada de consciência é a metáfora central do romance: libertar-se da ignorância não é um gesto heróico, é um processo doloroso, como sair de uma anestesia profunda. A queimadura é inevitável.
A sociedade de “Fahrenheit 451” é feita de corpos ocupados e almas ausentes. Tudo nela gira em torno da velocidade, da distração, do prazer instantâneo. Uma civilização que trocou o pensamento pela reação, o silêncio pelo ruído, a interioridade pela tela. Bradbury enxergou, com pavor profético, aquilo que hoje chamamos de hiperconectividade: um mundo em que todo o saber é superficial e toda dor é anestesiada. Os personagens vivem cercados por “famílias” eletrônicas, paredes que falam, programas interativos que dissolvem o tédio e interditam a dúvida. É o império da distração, ou como diria Pasolini, a vitória do consumo sobre o conflito.
Não se trata de uma tirania imposta pela força, mas de uma servidão aceita com prazer. A censura não vem dos militares, vem do mercado, da massa, da mediocridade triunfante. Não há mais necessidade de queimar ideias: basta torná-las irrelevantes. A fogueira literal é um detalhe. O verdadeiro incêndio é o apagamento da consciência. Em tempos em que tudo é entretenimento, pensar virou subversão. E quem insiste em fazê-lo, é mandado ao manicômio, ou ao esquecimento. A alienação não é imposta: é desejada.
Bradbury acusava a televisão, mas não a tecnologia. Seu alvo era mais profundo. Era a preguiça mental. O abandono da complexidade. A entrega da alma aos algoritmos da facilidade. Ele via com assombro o que hoje nos acostumamos a chamar de normal: a substituição da leitura demorada por conteúdos digeríveis, a conversão da experiência humana em estatística de engajamento. “Não foi o governo que proibiu os livros”, diz Beatty, o chefe dos bombeiros. “As pessoas deixaram de lê-los por vontade própria.” A barbárie começou no sofá, não no quartel.
Nesse ponto, Bradbury cruza com Cioran num mesmo desespero: o da inteligência traída por ela mesma. Para o romeno, o excesso de lucidez leva ao colapso do sentido. Para o americano, a falta de lucidez conduz ao mesmo abismo. Um se desespera porque pensa demais; o outro, porque o mundo parou de pensar. E ambos, ainda assim, escrevem, sabem que a escrita é o último gesto contra o desaparecimento. Cioran falava de uma “agonia sem espetáculo”. Bradbury mostra um espetáculo sem agonia. Um povo que ri enquanto queima sua própria biblioteca interior.

A distopia de “Fahrenheit 451” é elegante, asséptica, climatizada. Não há cadáveres nas ruas, nem chibatadas. Há pílulas para dormir, shows interativos, velocidade nas avenidas, pequenas felicidades programadas. A morte é uma ausência. A tristeza, um erro de programação. A linguagem foi reduzida a slogans, os livros a lixo perigoso. Não há memória, nem história; há o presente contínuo de Ricoeur, repetição, consumo. Tudo é feito para impedir o surgimento da pergunta. E é justamente por isso que Montag, quando começa a duvidar, torna-se perigoso. Ele não mata. Não explode nada. Ele para. Ele pensa. E isso basta.
Guy Montag é o tipo de personagem que começa a história como uma engrenagem. Ele não reflete, só funciona. Não sabe por que queima livros, cumpre ordens. Sua vida é rotineira, limpa, quase asséptica como a distopia que o cerca. Mas há uma rachadura no vidro: memória infantil, lembrança de uma vela acesa no escuro, quando sua mãe lhe ensinou que existe outro tipo de luz. A fagulha do passado torna-se metáfora do futuro. Montag é o agente da opressão que, por excesso de silêncio, acaba ouvindo. Sua transformação não é heroica, é vacilante, humana. Ele hesita, erra, foge, retorna. Seu despertar é um incêndio lento, espécie de purificação às avessas: não deixa o fogo para se salvar, entra nele para se tornar outro.
Clarisse McClellan é a primeira a ver esse outro. A jovem que caminha na contramão da pressa, pergunta em vez de afirmar, observa as folhas, a lua, os silêncios. Ela não salva Montag, mas o desconcerta. E nisso está sua força. Clarisse é o espelho que não deforma, ela revela. Seu frescor, liberdade, inteligência intuitiva fazem dela um anjo da desobediência. Vive à margem — e por isso vê mais longe. Ao contrário dos demais personagens, não está à venda, nem à deriva. Ela ouve, pensa, sente — três verbos que a tornam perigosa naquele mundo de autômatos felizes. Sua presença é breve, e basta. Como nos contos sutis, o mestre não precisa ensinar: basta que exista.
Do outro lado da narrativa, Mildred é o retrato da renúncia. Sua vida é um borrão: dorme com fones no ouvido, conversa com personagens de programas banais, vive dopada e entorpecida. A tentativa de suicídio logo no início do livro é um gesto individual, um grito abafado de toda a sociedade. Mildred representa milhões de almas que escolheram não sentir para não sofrer, não pensar para não cair. Ela não odeia os livros, simplesmente não vê sentido neles. Sua indiferença, mais do que a raiva do sistema, é o verdadeiro horror de Bradbury: a vida em piloto automático, a alegria falsa, o riso programado.
O capitão Beatty é uma figura mais ambígua. Intelectual frustrado, leitor secreto, cínico e articulado, conhece os livros que queima. Justifica a opressão com discursos elegantes, cita autores com desprezo, defende a ignorância com sofisticação. Sua fala é um ensaio de argumentação perversa: diz que os livros confundem, ferem, provocam angústia. Melhor queimá-los, diz, para que as pessoas vivam em paz. Beatty não é um vilão clássico. É um traidor do espírito. Um homem que leu demais e decidiu que o saber é perigoso. Em algum ponto da vida, desistiu de pensar e escolheu servir. Mas o faz com fúria, como quem quer punir os livros por não o terem salvado.
Queimar livros é queimar perguntas. É interromper a corrente de sentido que liga uma geração à outra, um autor a um leitor, um morto a um vivo. Em “Fahrenheit 451”, a censura não é uma ferramenta de repressão direta, mas um método de controle simbólico. Elimina-se o livro para eliminar o conflito. O livro é um organismo vivo, cheio de contradições, ambiguidades, espelhos: o sistema que Bradbury desenha não suporta complexidade. Precisa de respostas rápidas, certezas frágeis, obediência emocional. A destruição do conhecimento não se dá pela violência visível, é pelo desinteresse cultivado. Apaga-se a letra e o desejo de lê-la.
A consequência desse apagamento é o colapso da memória. A sociedade de Montag não lembra do passado porque não o leu. Vive em um presente sem densidade, comparação, referência. O presente, quando não tem memória, é prisão com fachada de liberdade. Bradbury mostra, com ironia amarga, como o esquecimento pode ser institucionalizado, não por meio de tortura, e sim por meio da distração permanente. Os poucos que se recusam a esquecer tornam-se arquivos ambulantes: homens e mulheres que memorizam livros inteiros para salvá-los do esquecimento. Tornam-se bibliotecas vivas, resistência encarnada. Como os rapsodos da Grécia antiga, ou os monges copistas da Idade Média, reencarnam a cultura em carne e voz.
Há nisso tudo uma espécie de heroísmo discreto e monumental. Resistir, nesse mundo, é lembrar. Lembrar que houve outros mundos, modos de viver, pensar, amar, morrer. Lembrar que o ser humano não nasceu para consumir, nasceu para compreender. Que o tempo não é feito de programas e pausas publicitárias, é de perguntas sem resposta. A literatura aparece como o último reduto do humano. Não porque contenha verdades absolutas, mas porque contém dúvidas persistentes. Bradbury nos convida a ver o livro não como repositório de respostas, mas como gerador de inquietações. Por isso ele incomoda tanto: ao invés de consolar, convoca. Ao invés de entreter, provoca. Ao invés de adormecer, acorda.
A distopia de “Fahrenheit 451” é ficção especulativa e tornou-se diagnóstico. Não precisamos de bombeiros incendiando bibliotecas: bastam algoritmos que moldam desejos, manchetes que substituem argumentos, timelines que nos privam do silêncio. A sociedade líquida de Bauman encontrou, em Bradbury, sua imagem térmica. Hoje, como naquele futuro ardente, a informação é abundante, o pensamento é raso. A enxurrada de dados criou um novo tipo de analfabetismo: ele sabe ler, e não entende; sabe clicar, e não questiona. As fake news são o sintoma visível dessa erosão. O vírus mais letal é outro: o cansaço intelectual, o fast-food mental, a perda do prazer pela complexidade.
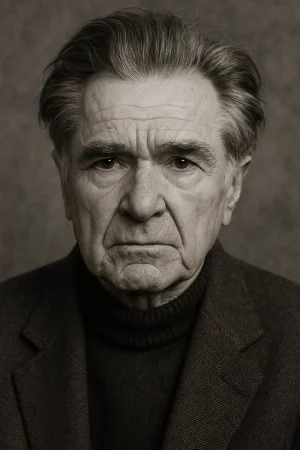
Em tempos assim, a literatura é mais que arte: é antídoto. Ler com atenção, interpretar, duvidar, buscar beleza e verdade em frases bem construídas tornou-se um gesto radical. A escola, quando não domesticada por burocratas, pode formar leitores inteiros. Cidadãos que sabem distinguir fato de opinião, desejo de necessidade, verdade de mentira. O livro é um abrigo e uma arma. É na leitura de obras como “Fahrenheit 451” que se forma um bom aluno, um espírito vigilante, um coração alerta. Bradbury sabia disso. Por isso escreveu, pois em meio ao ruído, uma frase bem lida pode ser a centelha do levante.
O romance permanece, décadas após sua publicação, como um livro de advertência e de responsabilidade. Bradbury não escreveu um tratado político ou manifesto ideológico. Escreveu um romance. Ao fazê-lo, mostrou que a literatura pode ser mais contundente que qualquer panfleto. Seu alerta é direto, e nunca simplista: quando o pensamento é delegado, a liberdade se dissolve. Quando o prazer substitui a introspecção, a civilização se banaliza. Quando esquecemos os livros, esquecemos de nós mesmos. No silêncio que resta, não há tirano maior do que o vazio. Queimar livros é o gesto final de um longo processo de indiferença. O incêndio começa muito antes, no momento em que se escolhe não ler.
Bradbury nos obriga a encarar essa escolha todos os dias. Sua distopia é construída com escolhas cotidianas: o tempo que deixamos de dedicar à leitura, a recusa à dúvida, a entrega ao entretenimento que não exige nada além da passividade. Seu livro é um convite à vigília intelectual, moral, sensível. Uma convocação para reacender o que ainda arde em nós: o espanto, a escuta, o pensamento. Enquanto houver alguém que leia um livro e se sinta transformado, “Fahrenheit 451” cumprirá sua missão, e o mundo, mesmo cercado de cinzas, continuará tendo chance de renascer.
“Queimar era um prazer.” Assim começa “Fahrenheit 451”, com uma frase que parece saída de um delírio místico ou de um prontuário psiquiátrico. É ali, nesse prazer incendiário, descrito com a precisão sensual de uma sinfonia bárbara, que Bradbury encontra a fábula invertida do nosso tempo. Montag, com seu lança-chamas transformado em batuta, é o maestro da aniquilação simbólica: conduz a orquestra da ignorância como se fosse uma apoteose estética. Cioran teria compreendido perfeitamente esse gozo no extermínio. Em “Breviário da Decomposição”, escreve: “O fanático está sempre convencido de que é chamado a salvar os outros, quando na verdade só sonha em queimá-los”. A imagem de Montag incendiando livros como se fossem marshmallows no crepúsculo, gesto pueril e apocalíptico, encarna esse prazer abissal que a modernidade nutre pela destruição do que a antecede. Mas Bradbury, como Cioran, sabe: esse prazer é ambivalente, gozo suicida. A chama que queima os livros incinera o sujeito que a empunha. Esse é o verdadeiro tema da obra: a consciência é uma pira. Pensar dói. Lembrar consome. Mas não há outro caminho. O homem que sobrevive ao incêndio do mundo é o que decide ser, ele mesmo, o livro que não se deixa apagar.







