Martin Heidegger (1889-1976), um dos pensadores mais completos (e complexos) da história, defendia a necessidade do recomeço como uma das questões centrais da vida. Entre outros pontos, é fulcral no pensamento de Heidegger a valorização das muitas descobertas que o homem faz no decorrer de uma vida que sempre lhe parece demasiado curta (e o é mesmo), mas decerto ganha outras cores, um viço inesperado, uma força qualquer poderosa o bastante para fazê-la desviar do precipício ao passo que nos instiga a recorrentemente testar limites novos, como se mais do que oxigênio, água e pão, tivéssemos de nos suprir primeiro de uma boa matula de acaso. A irrequietude do homem frente ao passar do tempo — incansável, inclemente, cruel — e sua cornucópia de mistérios cuja solução é meramente ilusória, dá ao gênero humano das poucas certezas que se consegue garimpar desse campo lodoso e edênico que é a vida: jamais se deve deixar passar uma boa oportunidade.
Poucas ideias remontam à imagem de aproveitamento do mundo, deste e mesmo de algum outro, em que passam a habitar — agora encantados, como diria Guimarães Rosa (1908-1967) — aquelas mulheres e homens sem par que ocuparam lugar de destaque na Terra, que uma narrativa de linguagem escorreita, plena de líricas alegorias, sobre a vida e, tanto mais, sobre o pós-vida de dois orgulhos que a brisa do Brasil não mais balança, e muito menos beija. Último volume da trilogia sobre um profeta nada convencional, em “A Morte de Jesus” (2019), o sul-africano J.M. Coetzee denuncia suas frustrações e confessa suas esperanças no que pode vir a ser uma outra civilização, partilhando da descrença do leitor. Coetzee, Nobel de Literatura em 2003, abre um enorme panorama, multicolorido e cinzento, sobre o destino da humanidade, perdida desde sempre nas ilusões de redenção que não cansa de alimentar. As grandes transformações sociais começam dentro do indivíduo, e ninguém cavou mais fundo a alma do homem em busca de sua real essência e de uma verdade qualquer que Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski (1821-1881).
No fundamental “Memórias do Subsolo” (1864), Dostoiévski brinca com dois conceitos, a avidez humana por sabedoria e o quão deslocado o homem está num mundo que não conhece, nem nunca conhecerá. Não por acaso, Dostoiévski, esse humanista incorrigível, para quem a esperança é uma vã quimera da qual ninguém no gozo pleno de suas faculdades mentais pode abrir mão, entra duas vezes na lista que compusemos, com os dez livros que têm de ser lidos por aqueles que não querem revolucionar nada menos que a si mesmos — além de “Memórias do Subsolo”, é mister citar “O Sonho de um Homem Ridículo” (1877), a respeito de um homem descoroçoado, desesperançoso, perdido, tão insignificante que o autor sequer deu-se ao trabalho de dispensar-lhe um nome. “O Sonho de um Homem Ridículo” é, a propósito, o primeiro a figurar na nossa relação, por ordem de importância, graças a sua capacidade de vencer a bruma corrosiva do tempo e manter-se espantosamente atual, como todo verdadeiro clássico.
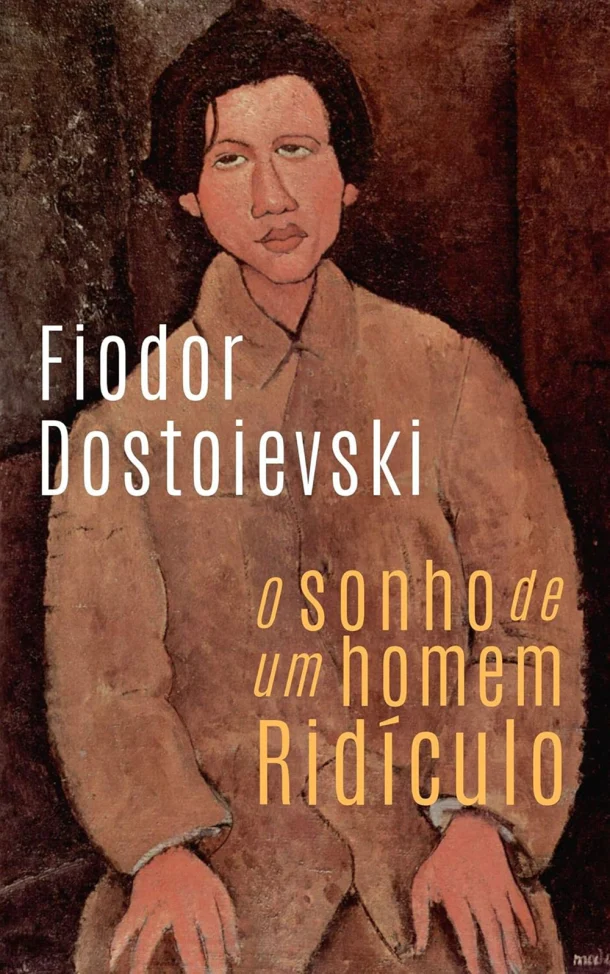
A loucura sempre permeou a humanidade. O homem vai perdendo a razão aos poucos, incapaz frente aos muitos desafios que a vida lhe impõe, ou o desatino o colhe de uma vez, consequência de muitos anos de uma existência fracassada. Fiódor Dostoiévski (1821-1881) não chegou a enlouquecer, mas esteve parede a parede com a insanidade. O russo, autor de obras-primas da literatura universal, era um homem descrente do gênero humano, e era muito controversa a suposta conversão do escritor a um possível amor por tudo e por todos. Entretanto, tomando-se “O Sonho de um Homem Ridículo” isoladamente pode-se acreditar mesmo nessa pretensa mudança de vida — e de ideias — de Dostoiévski. O conto, publicado em 1877, narra a história de um homem desacoroçoado, desesperançoso, perdido, tão insignificante que o autor sequer deu-se ao trabalho de dar-lhe um nome. Esse homem vaga pelas ruas mal iluminadas de uma São Petersburgo fustigada por um inverno que não tem clemência. O sujeito se deixa tomar por pensamentos monomaníacos de impotência e morte, o que já não lhe diz mais nada: ele era irremediavelmente um homem sem nenhuma importância, nem para os outros nem para si mesmo. Um homem ridículo. No começo da obra, a índole niilista de Dostoiévski resta intacta. Ao se analisar a postura do homem ridículo e o cenário em que se encontra — deambulando pelas vielas de uma grande cidade no inverno, a horas mortas, possivelmente alta madrugada — é inevitável pensar que seu desejo já fosse mesmo o que se configura a seguir, sendo incoerente a continuação da narrativa. Mas Dostoiévski tem muito mais a nos dizer.
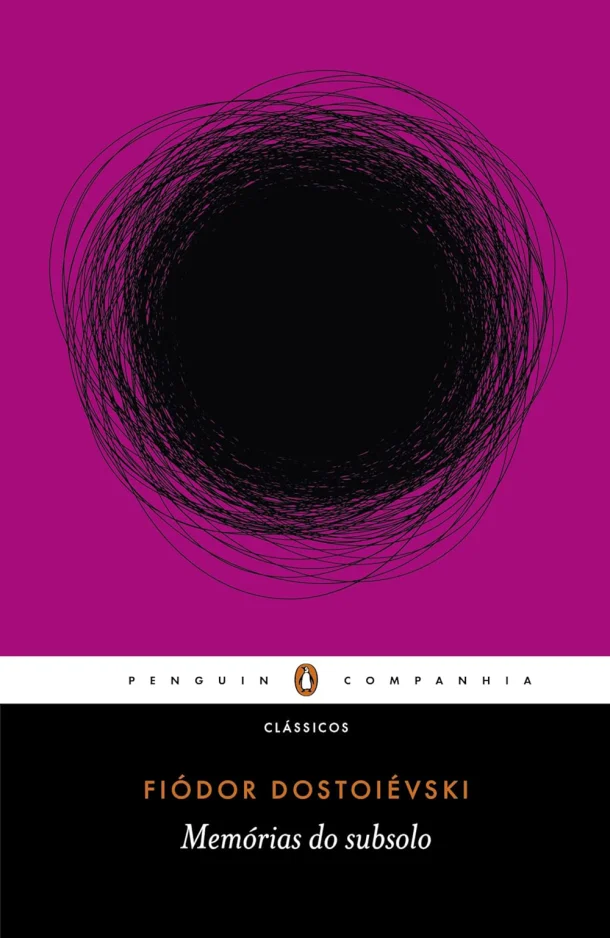
Em 1864, um inverno rigoroso assolava Moscou. Seria mais um de muitos na quase sempre gélida capital russa, não fosse pelo fato de que Fiódor Dostoiévski (1821-1881) precisava se desdobrar entre os cuidados com a mulher, que morria de tuberculose, e o esmero com que se debruçava sobre seu novo trabalho, uma ode à vida, à beleza do viver, às incongruências de um homem frustrado, que se retira do serviço público — atividade a que se dedicava apenas para ter o que comer — e vai morar num cubículo, num bairro afastado da cidade, e mesmo assim enfrentando apuros de dinheiro. Tudo nele — e no próprio Dostoiévski, como se vai ver — é dúvida. Dostoiévski talvez seja dos escritores mais aferrados à dúvida de que se tem conhecimento. Em “Memórias do Subsolo”, o livro em questão, por meio desse protagonista, agoniado, desprotegido, desacorçoado, Dostoiévski encarna a dúvida de tudo, inclusive das certezas, ou melhor, principalmente das certezas. Como em “O Sonho de um Homem Ridículo” (1877), a insignificância do personagem central o impede de ter um nome, mas esse sujeito instável, como todos os tipos de Dostoiévski, é dono de uma inteligência invulgar, capaz de conduzir o leitor por um labirinto de pensamentos que ele faz parecer completamente irrefutáveis só para, logo, a seguir, botá-los todos à prova. “Memórias do Subsolo” é o romance de formação de Dostoiévski, superando os imprescindíveis “O Idiota” e “Os Irmãos Karamázov”, justamente por introduzir o público no universo de seu autor. Por meio de “Memórias” é que o leitor vai começar a ter alguma ideia do quão fundo é o buraco existencial dostoievskiano.

A decisão de Coetzee por aludir a Jesus nos títulos de três de seus livros confunde, mas acaba levando a uma explicação plausível. “A Morte de Jesus”, último volume da trilogia sobre um profeta nada convencional, serve de válvula de escape para que o sul-africano Coetzee denuncie frustrações e confesse esperanças no que pode vir a ser uma outra civilização, opiniões furiosas e análises plenas de método com que o leitor identifica-se a despeito de preferências ideológicas, formação ancorada nesse ou naquele ponto de vista e, por óbvio, religião. O Nobel de Literatura em 2003, abre um enorme panorama, multicolorido e cinzento, sobre o destino da humanidade, perdida desde sempre nas ilusões de redenção com que não se cansa de sonhar, reunindo essas sensações diáfanas, abstratas, num todo coeso e humano, demasiado humano, conduzido por David, um menino atormentado pelo desejo insano que o atira à tragédia irremediável.
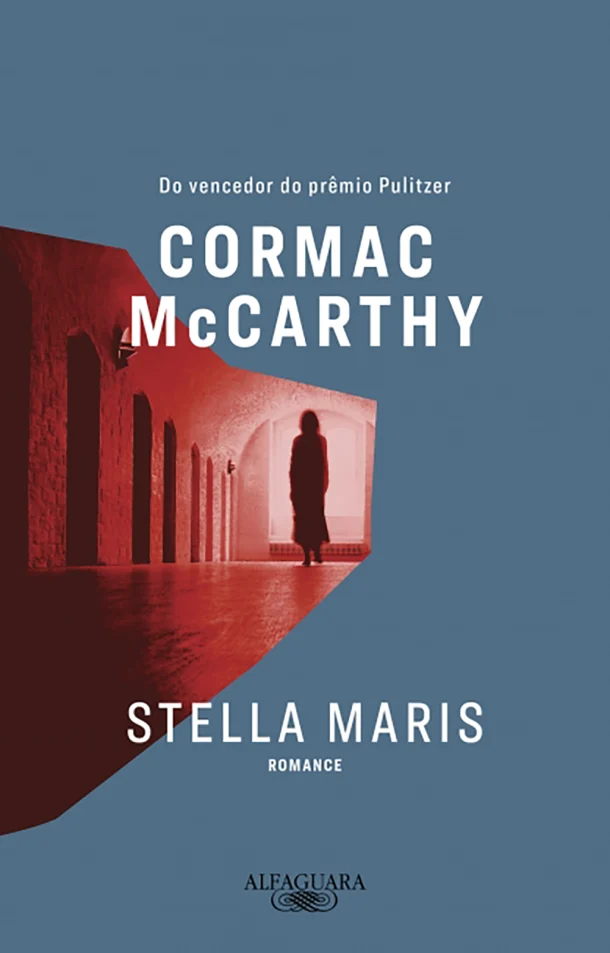
O lugar-comum de que alguns livros nascem clássicos aplica-se à perfeição a “Stella Maris”, o 12º — e, lamentavelmente, derradeiro — romance de Cormac McCarthy (1933-2023). O americano, frequentador costumeiro do Santa Fé Institute, passou seus últimos momentos rodeado dos outros “intelectuais rebeldes” da confraria ouvindo e elaborando teses sobre o fim e o reinício do universo, enquanto não aguardava por mais ideia nenhuma, quiçá pressentindo que aproximava-se a sua vez de juntar-se aos astros. McCarthy, que em seu ofício não era adepto da pontuação como a conhecemos, nisso lembrando Nelson Rodrigues (1912-1980) — ou sua influência mais direta, James Joyce (1882-1941) —, encerra uma carreira de sessenta anos de bons serviços prestados à arte com um imenso ponto de exclamação, como era de seu feitio. Encabeçado por Alicia, a primeira protagonista mulher desde “Nas Trevas Exteriores” (1968), “Stella Maris” propõe um salto sem rede no vazio da solidão e da loucura, sem que necessariamente dependam uma da outra.
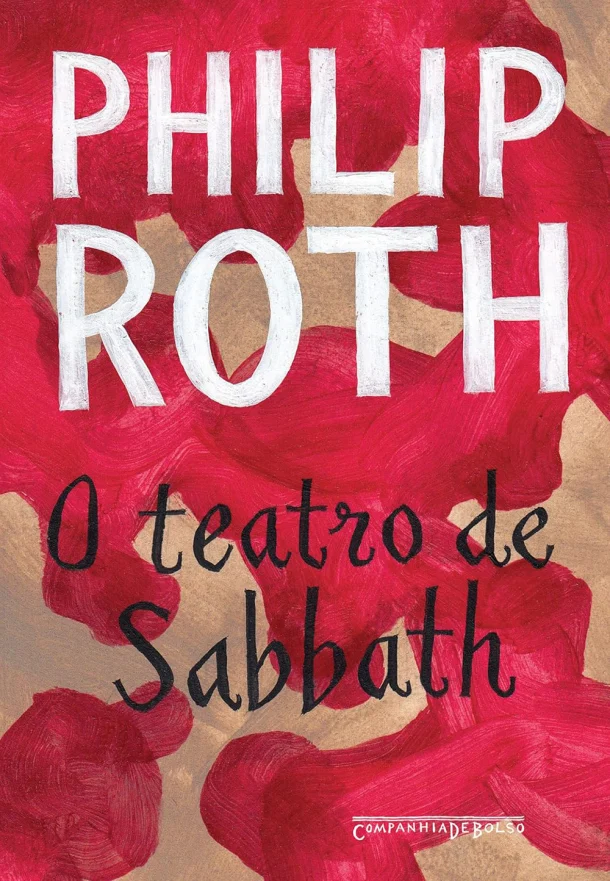
Um dos mais talentosos romancistas que o século 20 produziu, o americano Philip Roth nunca teve medo das boas polêmicas. Em “O Teatro de Sabbath”, Roth confere a Mickey Sabbath autoridade para representar a visão de mundo do escritor. Sabbath, um titereiro caído em desgraça num mundo sem lugar para a arte e tanto para a poesia, contamina o leitor com sua sujeira, sua descrença de tudo, seu esplim, seus pequenos delitos. Resta-nos acompanhá-lo por seus descaminhos de progressivo horror à retidão hipócrita, sexo bestial e autodestruição. Paira sobre esse sobrevivente da vida que não teve um mistério que Roth trabalha como só ele mesmo poderia, enquadrado em elementos tão corpóreos quanto alcoolismo, artrite e câncer.
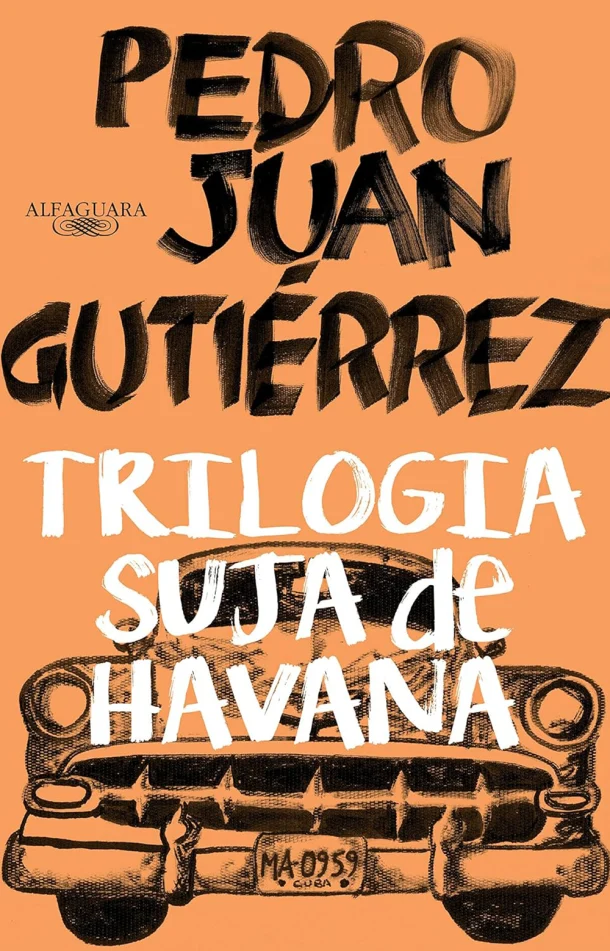
A Revolução Cubana (1953-1959), que depôs Fulgencio Batista e deu início à ditadura de Fidel Castro (1926-2016) pelos cinquenta anos seguintes, conduz a pena de Pedro Juan Gutiérrez, ele mesmo alcançado pela perversidade do comunismo, hábil em atirar à indigência e à fome milhões de cidadãos. Gutiérrez, todavia, refuta o papel de vítima, preferindo deixar a nu um lado festivo, até alienado, da população da ilha caribenha, e nesse momento o autor investe-se de seu lado engajado, militante, sem o qual julga-se incompleto. A utopia cínica de uma nação revolucionária, renovada, cai por terra mediante a constante ausência de comida e serviços básicos: essa é a deixa para que o escritor alce a imundície das vielas da capital Havana a uma forma de resistência, com sexo, maus odores e criminalidade à solta.

Volker Michels, conferencista e editor alemão responsável por reedições verdadeiramente antológicas da obra do romancista Hermann Hesse (1877-1962), Prêmio Nobel de Literatura de 1946, assina mais um trabalho, com os melhores contos do ficcionista, seu patrício. Reunidas cronologicamente, as narrativas compreendem a produção de Hesse entre 1903 a 1948, período que perpassa a fase madura do autor e a inscrição de seu nome como um dos maiores artistas do século 20. As dicotomias do homem, os enfrentamentos intestinos entre corpo e alma, a liberdade e seu preço, se encontram em cada história. Ao transportar o leitor para um mundo onírico, em que o sonho se mistura ao sentimento, os dois por seu turno amalgamando-se à filosofia, a coleção — publicada por uma editora brasileira pela primeira vez — é simplesmente preciosa.
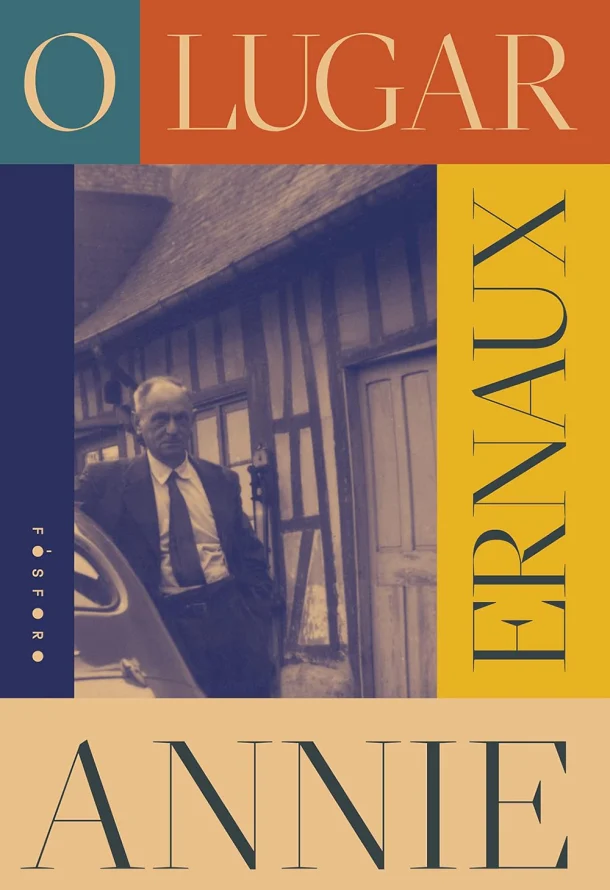
Por meio de uma escrita muito particular, quase sem figuras de linguagem ou recursos narrativos mais sofisticados, a escritora e professora francesa Annie Ernaux encontrou seu mundo. Dispensando artifícios num texto preciso, “O Lugar” é capaz de comover o leitor ao descrever a dor da perda do pai, o sentimento mais íntimo e rascante de sua vida. Em sequências curtas e interrelacionadas, Ernaux relembra a jornada do homem do campo que vira operário e, depois de anos de trabalho duro, abre um bar-mercearia num vilarejo normando. Ao falar de suas origens, a autora traça um dos tantos quadros sociais da França, sacudindo a poeira da produção literária no país e revelando personagens que só apareciam sob à luz do grotesco.

Outro ganhador do Nobel, em 2014, o romancista francês Patrick Modiano até surpreende com um conto de mistério com claro pendor para o suspense mais refinado. Traduzido pelo escritor Bernardo Ajzenberg, a quem também coube o posfácio, “Um Circo Passa” é publicado em língua portuguesa pela primeira vez desde o lançamento, três décadas atrás, e conta a vida de Jean, um garoto de dezoito anos sem meio de subsistência definido que pode ser encontrado num apartamento à beira do Sena, sem os pais, que deixaram a França no que parece ser uma demonstração do mais desabrido instinto de sobrevivência. Em plena marcha, a barbárie da ocupação de Paris pelas tropas de Hitler não demoraria a espalhar pânico, destruição e morte, gancho de que Modiano se vale para falar da negligência emocional dos pais de que ele próprio fora vítima, adicionando ao que relata uma fictícia e sedutora Gisèle, que agrava-lhe a sensação de alheamento do mundo e de si mesmo.
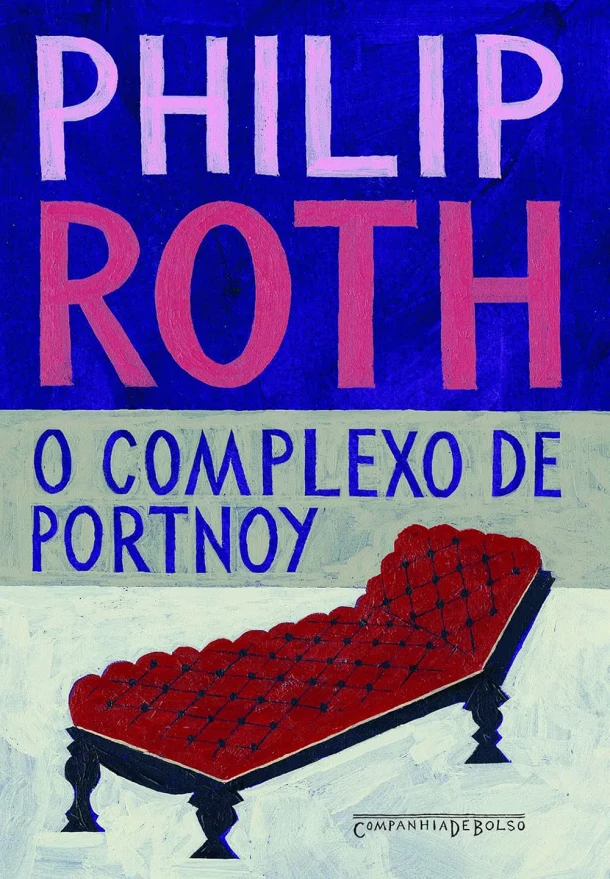
Valendo-se de um talento único para contar histórias com elegância e riqueza de minudências, Philip Roth encarna o judeu Alexander Portnoy, ninfomaníaco inveterado às voltas com reprimendas de seu super ego, fruto de uma infância opressiva. Nenhum outro literato seria capaz de juntar num mesmo volume opróbrios latentes há três décadas e a urgência de autoafirmação de um homem fraco, suscetível a toda sorte de interferências nefastas, da família — quase sufocada pela imagem onipresente da mãe —, da religião e da sociedade falocêntrica que nos vigia desde sempre, implacável com machos que ousam descontinuar esse patético modelo.







