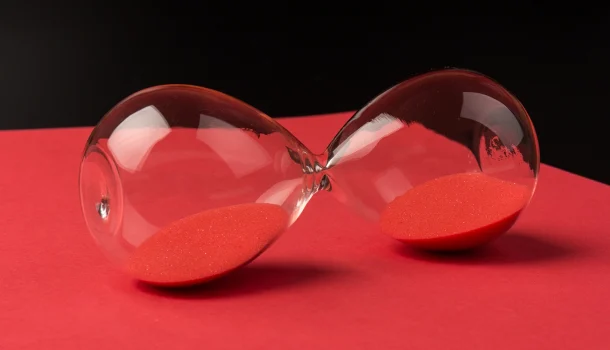Assim como a grande maioria dos brasileiros, acho engraçado um esporte como o curling, não vejo nexo na mistureba com arma que deu no biatlo, desconheço as regras de qualquer tipo de esqui e não consigo ver a diferença entre luge, bobsleigh e skeleton — nem sabia desses nomes, para mim era tudo brincadeirinha de trenó.
Assim como a grande maioria dos brasileiros, eu sempre encarei os Jogos Olímpicos de Inverno como uma segunda divisão das Olimpíadas — os Jogos de Verão. Que, para ser bem sincero, também nunca me foram importantes como uma Copa do Mundo — de futebol, claro. (Estou reproduzindo as definições lógico-mentais de meus tempos de criança, quando colocava no mesmo balaio semântico eventos como Festival Eurovisão, Olimpíada, lutas de boxe, escolha da Miss Universo, Super Bowl e programa de pescaria na TV aos domingos.)
Isto posto, assim como a grande maioria dos brasileiros, até outro dia eu jamais havia ouvido falar em um atleta chamado Lucas Pinheiro Braathen. Continuo sabendo pouco sobre sua biografia, mas agora que o brasileiro-norueguês garantiu para si lustrosas linhas nos registros da história do esporte — o primeiro a ganhar uma medalha invernal para um país da América Latina —, podemos exercitar aqui o simbolismo dele para o momento em que tantos brasileiros somos estrangeiros.
O meu lugar de fala é este, afinal: sou parte dos quase 5 milhões de brasileiros que vivem, por opção ou por necessidade, fora do Brasil. Este movimento, que eu detalhei em uma série de reportagens publicadas há alguns anos pela Deutsche Welle, é sem precedentes. Naquele conjunto de textos, nomeei o fenômeno como “a maior diáspora brasileira da história”.
Não vou adentrar aqui nas motivações sociais, políticas, econômicas e culturais que provocaram essa leva migratória. Mas o sucesso do Lucas, com sua cidadania dupla, acabou repercutindo em bolhas esquisitas, com argumentos distintos. Se alguns o exaltaram por sua escolha, adotando-o como um orgulho nacional, outros questionaram a legitimidade que ele teria para trazer (ou levar) essa medalha, posto que nem nasceu ou sequer more no país.
São discussões irrelevantes, mas constantes, em diversas situações. Lembro-me por exemplo de um familiar que, quatro anos atrás, período pré-eleitoral, me escreveu dizendo que eu nem deveria ter o direito de me posicionar sobre a polarização política brasileira. “Você não mora mais aqui, deixou de ser brasileiro”, escreveu-me o famigerado.
Uma ignorância sem-tamanho. Primeiro, porque em sociedades livres tenho o direito de emitir opinião sobre quaisquer temas. Além disso, jamais abdiquei de minha cidadania brasileira e sigo sendo eleitor, condições estas que, no entendimento desse meu interlocutor abestalhado, seriam necessárias para que eu tivesse direito de participar do debate político canarinho.
Se o Lucas é um outro caso, porque tanto nascimento quanto criação ocorreram lá no frio norueguês, seu êxito faz pensar como histórias assim se tornarão mais e mais comuns. Já que hoje 5 milhões de cidadãos brasileiros moram em outras partes do globo, quantos serão os descendentes diretos destes que nasceram ou nascerão em outros países e, por razões práticas ou afetivas, terão também o passaporte brasileiro?
Talvez haverá no futuro uma maioria de esportistas cujo vínculo com o país que represente em competições seja irrisório, apenas uma certidão e nenhum lastro cultural, linguístico ou social. Talvez.
E, se chegada esta hora, não parecerá tão distante a utopia de John Lennon ao cantar o vislumbre de um mundo sem países, sem nada que motivasse a matar, nada por quê morrer. Pois precisamos do nacionalismo? Atrás da bandeirinha não somos todos humanos?