Há escritores que inventam mundos. E há os que reorganizam o nosso, torcendo suas engrenagens até que tudo, enfim, revele o quão frágil, ilógico e tragicômico é o que sempre tomamos por normal. Juan Pablo Villalobos não escreve realismo mágico, tampouco realismo puro. Sua literatura habita aquele terreno desconfortável onde o absurdo é rotina e o humor, uma arma contra o desespero. Em suas páginas, o tráfico de drogas pode ser narrado por uma criança que sonha com um hipopótamo anão. Um velho rabugento pode travar batalhas existenciais com o síndico de um prédio decadente. Escritores falidos podem abrir salões de beleza. E a paranoia pode parecer mais sensata que a vida acadêmica.
Nada é gratuito, nem as risadas. Cada gesto ridículo carrega um acerto de contas com o poder. Cada silêncio esconde uma crítica ao sistema que nos entorpece. Villalobos não denuncia com discursos. Ele constrange com sutileza. Seus personagens não são heróis nem mártires. São corpos deslocados, vozes cansadas, figuras que tentam manter alguma coerência num mundo que já desistiu dela. Mas ao invés de dramatizar, ele opta pelo riso. Um riso desconcertado, de canto de boca, desses que nos fazem perguntar se devíamos mesmo estar achando graça.
A graça está justamente aí, na forma como ele nos obriga a rir de um sistema que, no fundo, só funciona porque fingimos levá-lo a sério. Os romances de Villalobos não são apenas engraçados. São precisos. Há método na loucura. Há intenção na desordem. E há beleza, também, mesmo que instável, no modo como ele transforma o fracasso em estilo e a frustração em matéria-prima literária. O que resta depois da gargalhada é uma espécie de sobriedade amarga, como se, por alguns segundos, tivéssemos visto com nitidez algo que normalmente evitamos encarar. Isso, eu acho, já é literatura.
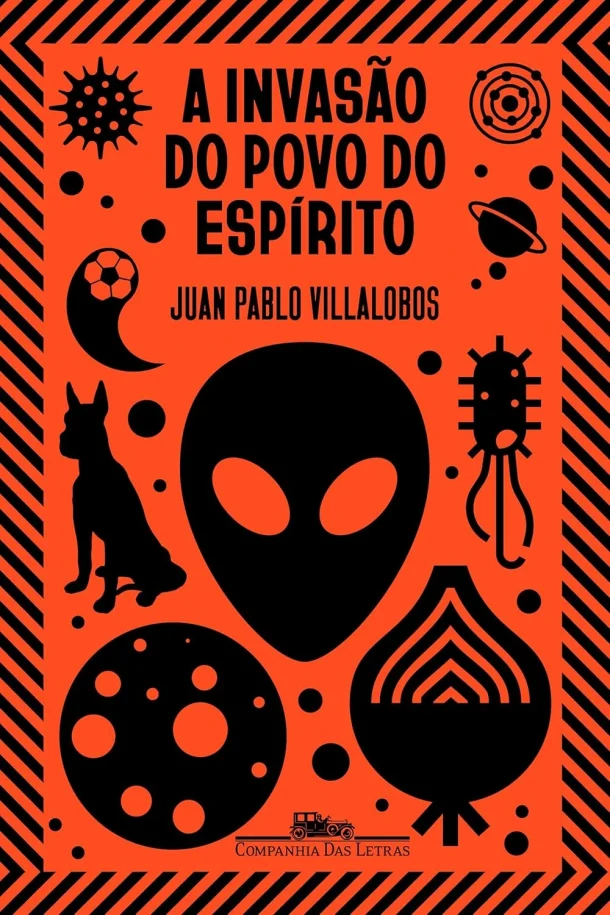
Dois amigos, Gastón e Max, se envolvem em uma missão que começa confusa e termina ainda mais desconcertante: reencontrar Pol, um velho conhecido que parece ter desaparecido entre promessas vagas e práticas espirituais pouco ortodoxas. A trama se desenrola numa cidade não nomeada — possivelmente europeia — onde nada é o que parece ser. Há um cachorro que se chama Gato, uma rede de negócios paralelos, cultos de aparência progressista e uma sensação persistente de deslocamento e ironia. Narrado com a leveza ácida característica de Villalobos, o livro flerta o tempo todo com o absurdo: não apenas pelo conteúdo das cenas, mas pela naturalidade com que os personagens atravessam situações que seriam cômicas, se não fossem trágicas. A busca por Pol, inicialmente casual, acaba por revelar uma série de pequenas farsas — pessoais, ideológicas, políticas — que desmontam qualquer esperança de coerência. O protagonista, envolvido sem querer em uma rede de expectativas, correções morais e paranoia, se vê aos poucos engolido por uma lógica de delírio onde ninguém parece exatamente culpado, mas todos são cúmplices. Combinando crítica social e nonsense existencial, o romance é um retrato agudo de uma geração flutuando entre o desejo de pertencimento e o cansaço do engajamento. Não há heróis, tampouco vilões. Só pessoas andando em círculos, tentando descobrir se ainda há alguma chance de acreditar em alguma coisa — ou em alguém.
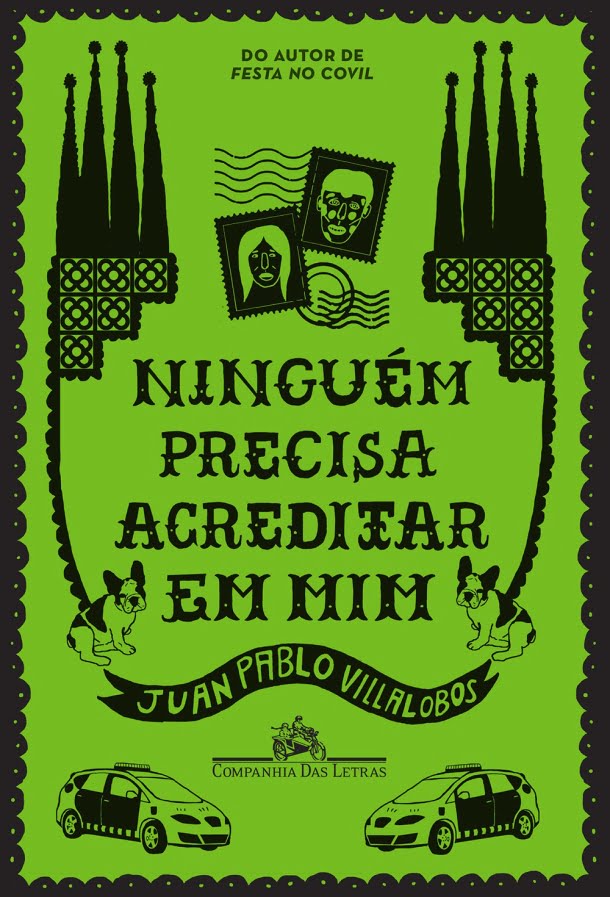
Um estudante mexicano de literatura, recém-aceito em um doutorado em Barcelona, parte da Cidade do México com o propósito modesto de continuar seus estudos. No entanto, antes de embarcar, é envolvido em uma proposta estranha, ambígua e potencialmente criminosa. O que deveria ser uma mudança de vida tranquila rapidamente se transforma em um enredo vertiginoso, onde o protagonista — que também se chama Juan Pablo — mergulha em uma espiral de favores obscuros, ameaças implícitas e situações cada vez mais absurdas. Ao longo da narrativa, acompanhamos sua tentativa de manter a sanidade, a identidade e a coerência enquanto tudo ao seu redor parece conspirar contra o mínimo de lógica. O personagem se vê constantemente envolvido em situações que não compreende por completo, cercado por figuras ambíguas, projetos literários fantasmas, e compromissos com organizações que operam nos limites entre política, crime e cultura. Em sua voz — hesitante, irônica e por vezes desesperada — percebe-se um desconforto crescente diante da própria vida, como se narrar já não bastasse para explicar o que está acontecendo. Com humor ácido e estrutura narrativa deliberadamente labiríntica, Villalobos constrói um romance paranoico, satírico e profundamente crítico. Não há garantias de que o que se lê seja verdade. E talvez esse seja o ponto: quando tudo se torna narrativa, até a realidade se contorce. Entre a literatura e o delírio, resta ao leitor decidir — ou não — se acredita.
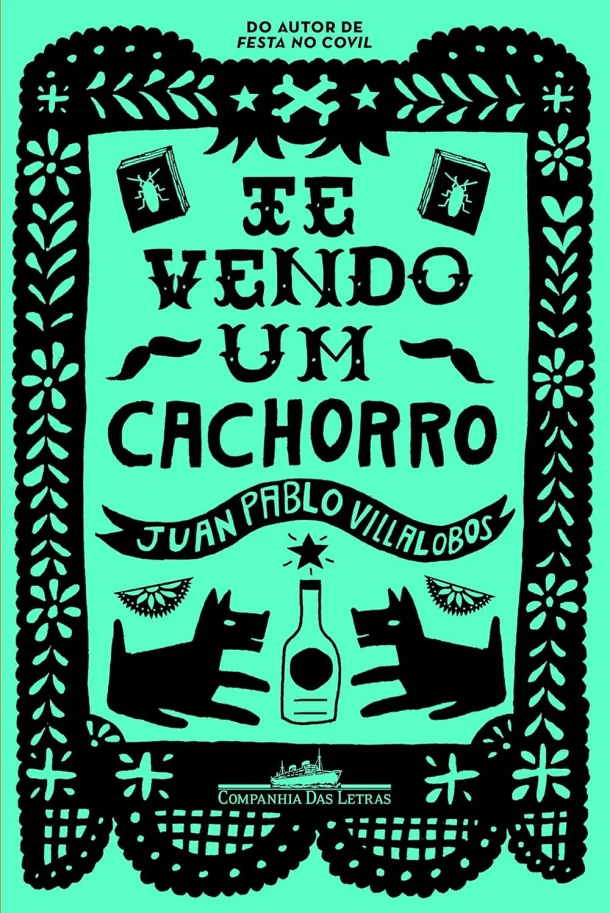
Teo é um idoso aposentado que vive num prédio decadente da Cidade do México, onde o tempo parece escorrer pelas frestas das portas e a solidão gruda nas paredes como mofo. Ex-vendedor de tacos e pintor frustrado, ele encara a velhice com um misto de ironia, cansaço e raiva silenciosa. Seus dias são preenchidos por pequenos confrontos com vizinhos excêntricos e reuniões absurdas do condomínio, lideradas por Mao, o síndico autocrático obcecado por ordem. Há também Francesca, artista performática que transforma o edifício em experimento social, e outros moradores que se dividem entre apatia, pretensão e delírio. À medida que a narrativa avança, o que parecia apenas uma sucessão de cenas cômicas e triviais revela um retrato íntimo da decadência pessoal e urbana, onde o senso de identidade escapa como fumaça de panela esquecida no fogo. Teo, com sua memória errática e linguagem corrosiva, tenta reescrever a própria história enquanto lida com a perda de autonomia, a invisibilidade social e a absurda teatralidade da vida comum. Com uma prosa mordaz e profundamente melancólica, Villalobos constrói um romance de humor amargo, onde o riso surge sempre acompanhado de um desconforto persistente. A trama não depende de grandes eventos: ela avança pela fricção miúda entre corpos envelhecidos, ideias fixas e silêncios compartilhados. Um estudo de personagem sutil e devastador sobre como sobreviver quando já não se é visto.
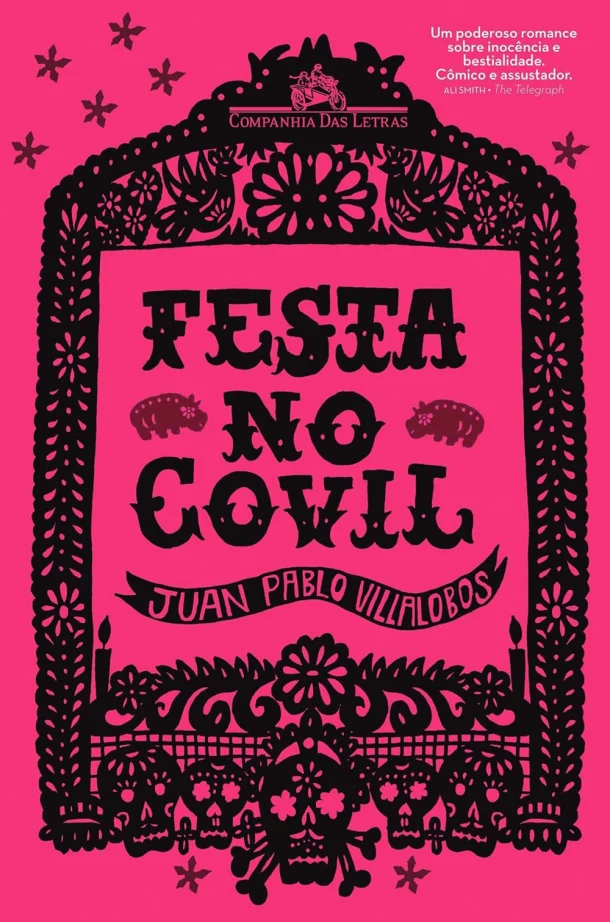
Tochtli tem sete anos, vive em uma mansão fortificada no México e sabe usar palavras como “sórdido” e “decapitação”. Filho de um poderoso chefão do narcotráfico, ele narra sua própria história com frieza e entusiasmo infantil. A mansão é seu mundo: cercado por empregados armados, animais empalhados, pilhas de dinheiro e um senso de normalidade deformado, Tochtli não conhece a realidade fora dos muros. Seu maior desejo é ter um hipopótamo anão da Libéria, e ele está certo de que o pai — cuja crueldade é camuflada por afeto performático — pode lhe dar tudo. A narrativa, curta e cortante, é construída a partir da perspectiva de uma criança que repete os valores e as violências do mundo adulto sem compreendê-los. A linguagem é precisa, artificialmente formal, revelando um narrador que aprendeu o léxico da brutalidade antes mesmo de saber o que é empatia. O humor surge do contraste entre o tom erudito e a banalidade macabra da rotina: mortes, desaparecimentos, subornos e execuções são tratados com o mesmo tom com que se fala de chapéus, palavras difíceis ou bichos de estimação. Villalobos cria um retrato perturbador e irônico do poder, da impunidade e da infância corrompida pela proximidade do crime. A ingenuidade de Tochtli não suaviza os horrores descritos — ao contrário, os torna ainda mais visíveis. Nada aqui é explícito demais, e é justamente essa economia de violência literal que produz o verdadeiro impacto. Uma história de silêncio cúmplice, luxo sujo e infância sequestrada pela linguagem do medo.







