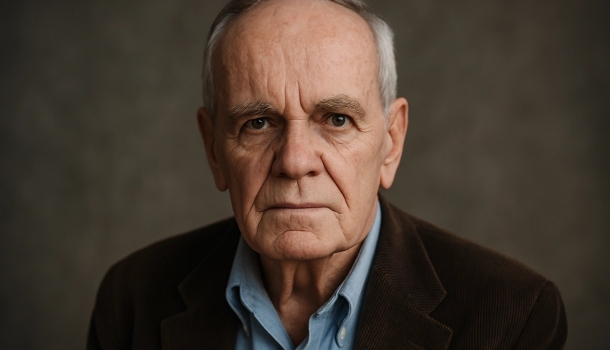Nada começa de verdade em “Meridiano de Sangue”, porque tudo parece já estar acontecendo quando abrimos o livro pela primeira vez, assim como aquelas conversas que pegamos pela metade e sentimos vergonha de perguntar do que se trata. E talvez por vergonha, ou por inquietação, seguimos em frente. Não que adiante muito. Cormac McCarthy não dá qualquer chance de conforto. E talvez seja justo, já que o conforto, no fim das contas, é uma das mentiras preferidas da humanidade.
A história, se é que se pode chamar assim, acompanha um rapaz sem nome (o garoto, só isso), que foge de algo, embora talvez esteja apenas indo para outro lugar que não é menos ruim do que o anterior. O Texas se abre como uma ferida; é seco, sujo, violento. Os anos se confundem (1849? 1850? Que diferença faria?), e há homens cavalgando, matando e morrendo por razões que ninguém sabe exatamente quais são, embora todos finjam saber. Todos sabem. Fingem saber. Há uma espécie de verdade implícita em tudo isso. Algo que reconhecemos, mesmo que ninguém goste de reconhecer.
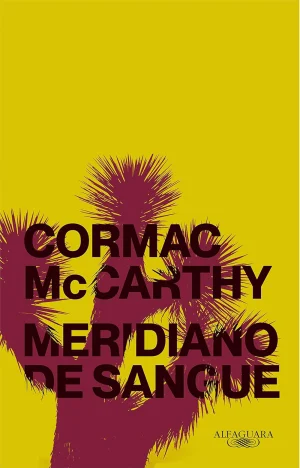
Mas isso não é uma história de faroeste, pelomenos não daquelas que Hollywood tentou transformar em metáfora de qualquer coisa. McCarthy nunca permitiria algo tão pequeno. Ao contrário, é quase uma história bíblica, dessas que Deus esqueceu de contar por não ser capaz de suportar a culpa. Deus não aparece aqui, e não adianta procurá-lo nas entrelinhas. Talvez tenha morrido, ou simplesmente desistido. E, sem Ele, resta o juiz Holden. Holden, uma espécie de monstro filosófico, que dança descalço, filosofa sobre guerra e desenha cuidadosamente tudo que destrói, talvez porque o que destruímos seja a única coisa que realmente conhecemos. Ou assim pensa ele. Ou assim pensamos nós.
Holden é imenso, branco como o mármore, careca e sem idade definida, como um demônio extraído diretamente da terra, e a terra não liga se ele é anjo ou besta. Ele está ali para lembrar que não há escape possível; e lembra constantemente, repetindo ideias, voltando, dando voltas em si mesmo. Como alguém perdido que finge ter controle. Não há controle algum. O juiz está ali, porque precisa estar; alguém precisa testemunhar tudo isso, senão é como se não tivesse acontecido. O horror precisa de testemunhas.
Mas não é fácil seguir o juiz, porque o texto insiste em interromper-se a si mesmo. McCarthy, quase sem querer, talvez propositalmente, desiste da coerência porque o mundo também desistiu dela faz tempo. A narrativa tropeça, recomeça, se perde; como se o escritor escrevesse contra si mesmo. As frases são belas até doerem, depois feias até encantarem novamente, num ciclo estranho, quase como se fossem músicas desafinadas, porém perfeitas em sua falta de harmonia. A perfeição, afinal, é isso: ausência absoluta de perfeição. Talvez não seja perfeição então; talvez nem importe tanto.
Em algum momento, o garoto encontra um bando. Matam índios. Matam mexicanos. Matam uns aos outros. Por contrato, diversão ou acaso. Há uma espécie de lógica perversa por trás disso tudo, mas não é explicada, porque não há explicação possível para o que o ser humano é capaz de fazer com outros seres humanos. O céu se abre, vermelho como sangue ou dourado como ouro, não faz diferença, ninguém olha para cima mesmo. Deus não está olhando de volta. É quase engraçado, se não fosse insuportável.
Uma coisa fica clara: McCarthy odeia clichés. Odeia tanto que prefere criar suas próprias armadilhas narrativas, como se quisesse cair nelas só para ver como escapará em seguida. E ele escapa, quase sempre. O leitor não escapa. Somos puxados para baixo, atolados em uma areia movediça da qual não queremos sair, porque ali há verdade, mesmo que seja uma verdade horrível. Queremos ver até onde a lama nos leva, queremos afundar nela. Não porque gostamos, mas porque a verdade é assim: é lama, pó, sangue seco, cheiro de carne apodrecida e o silêncio após um tiro.
A violência não é espetacular aqui; é cotidiana, quase entediante. Um aborrecimento que mata. A vida é barata demais, nem vale a pena lamentar. Há uma certa banalidade que não nos abandona. O que fica não é exatamente o horror, mas o silêncio depois dele. E, curiosamente, McCarthy não parece interessado em julgar. Não há juízo moral, apenas descrição: veja o homem, veja o que ele faz quando ninguém olha. O juiz Holden não julga, apenas registra, talvez porque julgar seja um luxo que o inferno não permite.
E enquanto lemos, algumas lembranças estranhas surgem e desaparecem sem aviso. Uma estrada por onde passamos uma vez, uma casa velha que já não existe, uma conversa que não aconteceu; McCarthy provoca ecos internos que nem sabíamos ter. A memória é traiçoeira; inventa o que não vivemos. “Meridiano de Sangue” parece mexer com essas lembranças falsas, implantar histórias que se tornam nossas mesmo sem sê-las. Porque, no fundo, sabemos que já estivemos naquele deserto, mesmo sem nunca ter estado lá.
Às vezes, o leitor se pergunta se McCarthy não exagera propositalmente, se não testa o limite do insuportável apenas para ver quanto somos capazes de suportar antes de fechar o livro e desistir. Talvez seja exatamente essa a ideia, que fechemos o livro, que desistamos. Mas não desistimos, porque desistir seria fácil demais. E, se há algo que fica claro neste livro, é que nada é fácil. Nada.
Ao final, se há final possível, resta um silêncio estranho. Uma sensação estranha. Como se tivéssemos visto algo que não devíamos. Algo que ninguém deveria ver. “Meridiano de Sangue” é um livro escrito para ninguém. Ou para todos. Não importa. Não há moral, não há lição, não há recompensa. Há apenas a terra, testemunha muda, vermelha, vazia, esperando pacientemente até que todos passemos por ela. E ela ficará ali, indiferente, muito tempo depois de já não sermos mais nada além de pó.