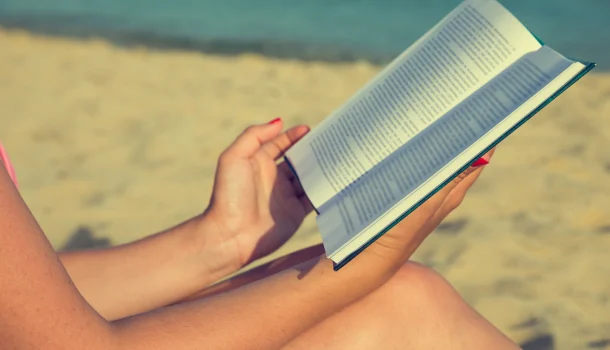A literatura brasileira, ao contrário do que fazem crer seus manuais, raramente foi cordial. O que ela tem de mais vivo está nos desvios, nos livros que não pedem licença nem fazem pose de cânone. É nesses lugares que mora a força bruta do gesto narrativo, não o que adestra a linguagem, mas o que a desvia, a contamina, a quebra. E há livros assim, que não se ocupam em provar nada, mas acabam dizendo tudo. São obras que não se preocupam em ensinar, mas talvez por isso deixam marcas.
É o caso de uma mulher que, num hospital psiquiátrico, recorda que já foi esposa de Salomão. A mais feia, a mais lúcida, a única alfabetizada. E por isso mesmo, a única capaz de escrever aquilo que tantos tentaram, a própria origem do mundo. Não importa se é delírio ou reencarnação; importa que sua voz, afinal, escreve.
Ou daqueles cinco homens envelhecidos que narram, com frieza, desespero e riso curto, os rastros que deixaram para trás. Cada um deles é uma espécie de cadáver precoce, não exatamente por estar morto, mas por já ter parado de viver há muito tempo.
Há ainda o operário e o estoquista que, ao se cansarem da precariedade diária, decidem abastecer a cidade por outro caminho. Trocam crachá por risco, rotina por ilegalidade. Não por heroísmo, mas por cálculo. Porque, às vezes, é só isso. Sobreviver de maneira lúcida já é subversão.
E há Lúcia, que um dia foi diagnosticada como enervada. Não pela medicina, mas pela fúria surda de quem pensa demais, deseja demais, respira de forma errada num mundo que exige silêncio feminino. Lúcia quer sentir. E sentir, ali, já era insubordinação.
Por fim, o caos. Um romance sem centro, sem protagonista, sem ordem. Vozes que atravessam vitrines, outdoors, palcos, calçadas. Uma explosão de ruído e colagem. Literatura como happening, gesto político, invenção anárquica da forma. Nem leitura. Experiência.
Juntos, esses livros não têm lição. Mas carregam algo mais poderoso. O direito de dizer que o mundo, esse aí, tão domesticado, ainda pode ser reimaginado. As sinopses foram adaptadas a partir das originais fornecidas pelas editoras.

Pedro e Marques revezam-se entre caixas, estoques e humilhações no supermercado Fênix, localizado no centro de Porto Alegre, mas carregam consigo a lucidez de quem jamais acreditou que dignidade pudesse vir de crachá. Moradores de vila, favela sulista onde o concreto é tão desigual quanto o destino, os dois se debatem contra a precariedade com a coragem silenciosa de quem lê o mundo pela margem. Quando a possibilidade de comercializar maconha surge como alternativa à exploração formal, não há dilema moral, apenas escolha prática: ou seguem se apagando sob a lógica assalariada, ou tomam para si a gestão do próprio risco. Falero constrói, em terceira pessoa, uma narrativa marcada pela tensão entre o discurso culto e a pulsação viva da oralidade periférica. O humor é ácido, político, cortante, e o olhar dos protagonistas, embora esvaziado de ilusões, é incrivelmente nítido. A dupla ressoa, em registro moderno e urbano, ecos de um Dom Quixote e seu Sancho Pança, reinventados no asfalto e nos becos. O romance não exalta nem condena, apenas revela, com honestidade brutal, a engenharia das escolhas forçadas. O resultado é um retrato tão feroz quanto terno da sobrevivência como estratégia, e da inteligência como único patrimônio legítimo quando tudo o mais foi negado.

Cinco homens narram seus últimos dias, e com eles, suas vidas inteiras — frágeis, frustradas, cínicas. Álvaro, Silvio, Ribeiro, Neto e Ciro são ex-maridos, pais desastrados, profissionais irregulares e, sobretudo, prisioneiros da própria autossabotagem. Cada um expõe, em primeira pessoa, os resíduos de suas escolhas mal feitas, amores desgastados, e convicções gastas como o corpo que envelhece. A estrutura fragmentada, sem linearidade, transforma o tempo em um quebra-cabeça moral e afetivo. A morte se insinua não como clímax, mas como cenário de fundo: cada voz, ao se aproximar do fim literal, desnuda também a falência simbólica de uma geração masculina que prometia muito e realizou pouco. A linguagem é ácida, fluida, realista, marcada por um humor amargo que não poupa seus narradores nem o leitor. Há violência emocional, pequenos fracassos privados, ressentimento, desejo e desencanto, tudo embrulhado em confissões secas, às vezes brutais. A cidade do Rio de Janeiro, decadente, solar, indiferente, funciona como um espelho dessas vidas em queda. Fernanda Torres costura essas vozes com precisão cruel, revelando as zonas mortas entre aquilo que se esperava dos homens e aquilo que eles se permitiram ser. Ao final, não há redenção, apenas o retrato honesto e implacável de uma masculinidade sem glória.
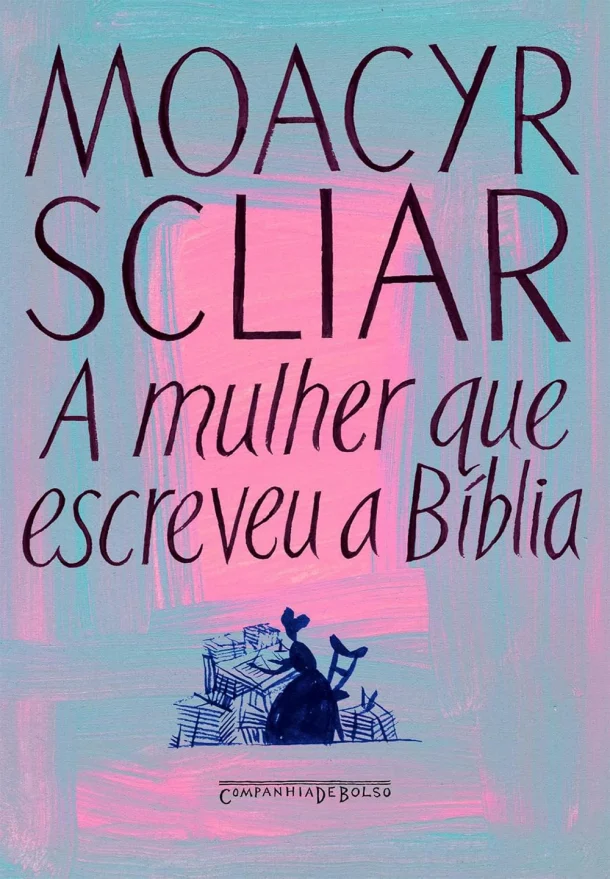
Em um hospital psiquiátrico contemporâneo, uma mulher anônima rememora, sob hipnose, uma vida passada no século 10 antes de Cristo, quando teria sido uma das setecentas esposas do rei Salomão. Considerada a mais feia do harém, é também a única capaz de ler e escrever. Essa habilidade incomum a torna escriba real, encarregada de relatar a história da humanidade e do povo judeu, tarefa abandonada por uma junta masculina de sábios. O romance alterna registros de linguagem que oscilam entre a solenidade das Escrituras e o calão mais direto, criando um efeito cômico e provocativo. A protagonista narra sua trajetória com ironia, sátira e irreverência, cruzando episódios bíblicos conhecidos com novas versões filtradas por sua sensibilidade feminina e marginalizada. A corte de Salomão surge não como espaço sagrado, mas como palco político e afetivo, onde o poder se revela ridículo e humano. Scliar entrelaça crítica social e fabulação com notável fluência, oferecendo uma história que, embora ambientada em tempos remotos, ecoa questões contemporâneas sobre gênero, memória e autoria. A escrita, marcada por leveza narrativa e inteligência satírica, devolve à figura invisível da mulher um lugar central na construção simbólica do mundo. O romance é um tributo à imaginação literária e ao direito de reescrever a própria história.
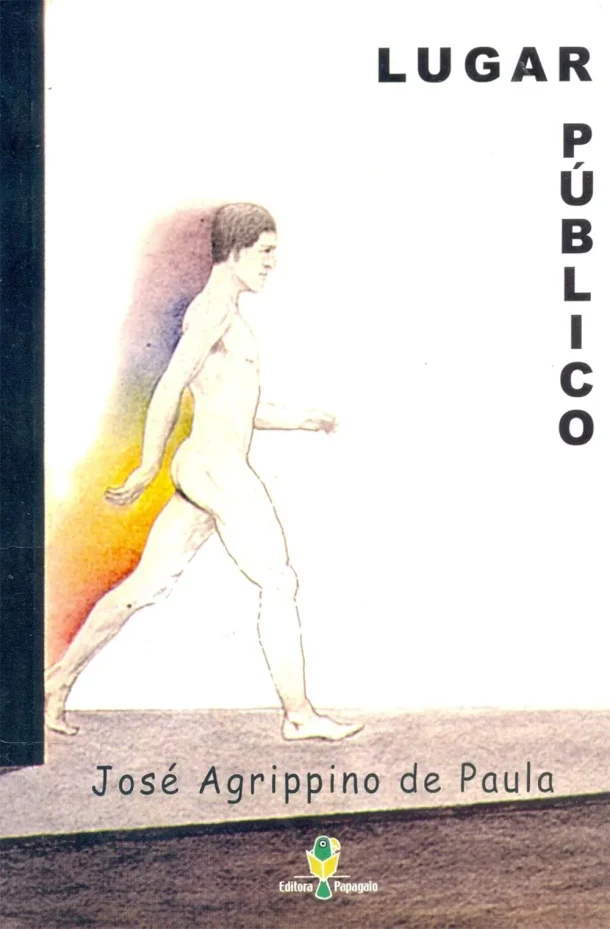
Corpos falam, ruídos pensam, imagens colapsam sobre si mesmas. Não há história a ser seguida, mas uma coreografia de vozes e cenas que emergem e se desfazem, como aparições num palco instável. A linguagem abandona qualquer linearidade, abrindo espaço para um fluxo descontínuo de sensações, slogans, frases interrompidas e ações sem consequência. O romance dissolve o narrador, fragmenta o sujeito e esgarça a noção de tempo narrativo. O que resta é o registro bruto da experiência coletiva, urbana, exposta à luz artificial de uma sociedade-espetáculo onde tudo é gesto, ruído e encenação. A escrita, deliberadamente anárquica, convoca a publicidade, a televisão, o delírio, o teatro e a cultura pop como elementos indistintos de um mesmo processo de colapso simbólico. A cidade não é cenário, mas matéria viva, pulsante, caótica — e nela, as vozes se atropelam, se desfazem, se amplificam, como se todas pertencessem ao mesmo corpo político em convulsão. Não há personagens, apenas presenças em trânsito. A leitura exige suspensão da lógica habitual, abandono de expectativas narrativas e entrega à força plástica e performática do texto. Obra seminal da contracultura brasileira, o livro é mais que um romance: é um acontecimento estético, uma implosão textual onde a linguagem explode o silêncio social com seu próprio excesso.

Ao receber de um médico o diagnóstico de que é uma “enervada”, Lúcia começa a registrar suas impressões como quem desmonta, com lucidez e ironia, os rótulos impostos às mulheres de sua época. O romance, estruturado como diário íntimo, acompanha essa protagonista inquieta e sexualmente livre enquanto atravessa casamentos fracassados, flertes passageiros, festas da elite carioca e tardes de morfina com amigas igualmente insatisfeitas. Chrysanthème constrói uma narrativa marcada por uma consciência feminina aguda, que se recusa a aceitar o amor como cárcere, o casamento como dever e a normalidade como virtude. O tom é moderno, irônico, melancólico, e as personagens — Maria Helena, Laura, Magdalena, Margarida — formam um pequeno coro dissidente que dá ao título seu plural. A escrita é intensamente sensorial, cheia de hesitações, lampejos e desvios, como se cada frase testasse o limite entre o que pode e o que não deve ser dito. Mais do que um retrato de época, o livro se afirma como um gesto de insubordinação estética e política, antecipando debates feministas com uma ousadia raríssima para a literatura brasileira do início do século 20. Lúcia, longe de se conformar ao diagnóstico, transforma sua suposta doença em linguagem, e sua inquietação, em forma.