Nos círculos intelectuais, onde disputas por erudição são tão expressivas quanto o conhecimento real, admitir gostar de certos livros pode soar como heresia. Dizer que aprecia Proust, Joyce ou Dostoiévski é a senha que abre o portal das conversas inteligentes; confessar simpatia por best-sellers ou romances de aeroporto, por outro lado, pode provocar sorrisos amarelos ou olhares de reprovação. Entretanto, há livros que, embora tachados de comerciais, simples ou escapistas, enchem as estantes e povoam os corações até dos leitores mais sofisticados. Alguns deles são clássicos do entretenimento; outros, fenômenos editoriais. O que têm em comum? O prazer da leitura. E esse prazer, que deveria ser celebrado, é vezes reprimido por medo do julgamento dos outros.
Certa feita, o sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002) argumentou que gosto é uma construção social: o que apreciamos está diretamente ligado à posição que ocupamos e aos valores do nosso grupo. Nesse sentido, o gosto por certos livros não é apenas uma questão de prazer do indivíduo, mas de status. Assim, o intelectual que se define por seu refinamento tende a evitar publicamente obras que se relacionem ao entretenimento de massa. Há uma pressão implícita para que seu gosto reflita um suposto “nível superior” de compreensão estética ou literária. Harold Bloom (1930-2019), crítico literário conhecido por sua defesa do cânone ocidental, revelou certa admiração pela prosa de Stephen King, outro autor comumente rejeitado por críticos literários, mas amado por milhões ao redor do globo.
Mas essa repressão do gosto não anula o prazer. Muitos leem escondido, com a capa dobrada para dentro, ou dizem que só estão lendo “por curiosidade antropológica” ou “para entender o fenômeno cultural”. Outros mantêm seus exemplares em prateleiras secretas, longe do olhar dos visitantes. A escrita pode ser criticada por sua simplicidade, seus clichês ou suas construções previsíveis, mas há algo irresistível no ritmo vertiginoso e nas teorias conspiratórias que misturam arte, religião e história.
A literatura romântica é uma das mais desprezadas pelos círculos intelectuais — especialmente quando protagonizada e escrita por mulheres. Existe um preconceito de longa data que liga o romance amoroso à superficialidade e à fuga do mundo. Autoras como Jane Austen (1775-1817), Clarice Lispector (1920-1977) ou, por que não?, Elizabeth Gilbert passaram anos relegadas ao rótulo de “literatura feminina” até que tivessem, afinal, reconhecido seu valor artístico. Austen, Clarice e Gilbert constam da nossa lista, junto a outros dois autores homens, o que corrobora a urgência de seguir combatendo determinadas ideias e desmistificando falsos paradigmas, que só o que fazem é perpetuar a burrice do reducionismo.

Quanto mais se tem, mais se quer — e menos se consegue, e quase se perde tudo. Essa é uma das conclusões a que chega ao fim das 360 páginas de “Comer, Rezar, Amar”, uma espécie de “Odisseia”, o poema épico de Homero (928 a.C — 898 a.C.), numa versão feminista, pós-moderna, marqueteira e cheia de ritmo. Elizabeth Gilbert, a anti-heroína cuja alma tumultuosa busca um porto seguro enquanto se dedica também à fruição dos tantos prazeres da carne, obedecendo, sem se dar conta, ao carpe diem de Horácio (65 a.C. — 8 a.C.), sai de sua Nova York natal e passa por Bali, Índia e Itália apenas para que fique suficientemente claro que a verdadeira paz está bem mais perto do que imagina, em algum lugar que só ela mesma conhece. Sensível às necessidades que o mundo não é capaz de suprir, Gilbert ressalta as pequenas e grandes incoerências de uma vida que se quer extraordinária num livro despretensioso, cuja narrativa leve e pródiga de passagens reflexivas o alçou à lista dos mais vendidos do “The New York Times” por 180 semanas.

Philip K. Dick (1928-1982) era um dos mais eufóricos com a iminência de uma estreia de peso nos cinemas. Em sua última entrevista, à “The Twilight Zone Magazine”, PKD deixara escapar a tietagem, que se estendia mesmo ao traje que deveria usar quando do grande acontecimento, talvez o maior de sua vida, a coroação de uma carreira meteórica que já contava 20 anos e 44 trabalhos. Para a ocasião, provavelmente compraria (ou, o mais sensato, alugaria) um smoking, ainda que preferisse uma camiseta e jeans surrados. “Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?”, seu melhor livro, o mais famoso, o mais delirante, o mais poético, publicado em 1968, virou filme pelas mãos de Ridley Scott catorze anos depois, e em 2017, fora a vez de Denis Villeneuve dar sua versão para uma das distopias neo-apocalípticas mais vibrantes já pensadas. Nas cerca de três centenas de páginas, a depender da edição, PKD esgrime sobre dilemas a exemplo do progresso tecnológico às custas da degradação do ambiente, a tendência autodestrutiva do homem e o tempo como a maior fortuna de que alguém pode dispor. Digam o que quiserem de “Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?” — cafona, ligeiro, nonsense —, mas sua aura vanguardista e seu vigor estético, reforçado por Scott e Villeneuve, hão de permanecer.

Clarice Lispector (1920-1977) foi um espírito dos mais invulgarmente caudalosos no corpo de uma mulher comum. As caminhadas da escritora pela orla do Leme de um Rio de Janeiro já sepulto nesse imenso cadáver que não para de procriar chamado Brasil tiveram sua grande medida de responsabilidade nas iluminações tenebrosas com que Clarice, essa alma essencialmente sombria (mas que gostava de sol), terminava de arrasar com suscetibilidades hipócritas da gente sabida de seu tempo. Publicado em dezembro de 1943, dezesseis anos antes da ida de Clarice para a Zona Sul carioca — para onde fora levada quando decidira se separar do marido —, “Perto do Coração Selvagem”, o romance inaugural da prolífica carreira de Clarice, escrutina as primeiras descobertas de Joana, muitas, claro, ligadas à paixão e ao sentimento amoroso mais elaborado, e à medida que o livro se agiganta e Joana torna-se mulher, o leitor percebe quão ingênua, quiçá tola, era a protagonista.
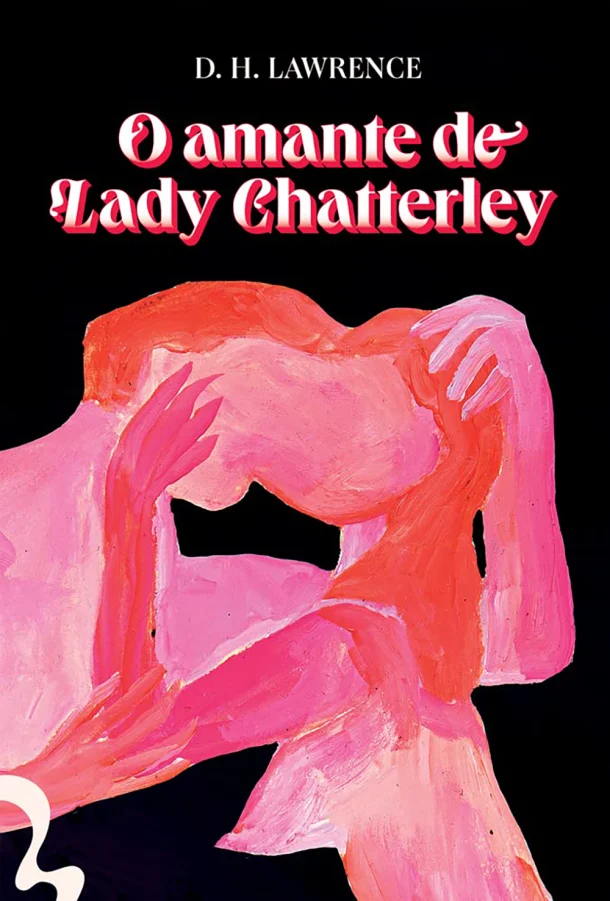
Uma mulher bonita, fina, rica, com uma posição respeitável na sociedade conservadora da Inglaterra logo após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), quadra decisiva para o crescimento da indústria em todo o planeta, deixa-se seduzir não pelo jardineiro viril, doce e, pasmem, leitor de James Joyce (1882-1941) que trabalha para o marido, mas por tudo o que aquele homem encerrava de mágico e de simples para ela, presa num casamento infausto, ainda que ninguém tivesse culpa. “O Amante de Lady Chatterley” é um conto de amor, mas é igualmente um tratado acerca do poder do ódio, que também vale-se do amor para vicejar, em silêncio, sem alarde, sufocando tudo a sua volta num movimento de sutileza absoluta, à luz de um balé maldito. A pena do britânico D.H. Lawrence (1885-1930) lega à eternidade um dos romances mais lindamente provocantes que a literatura universal já produziu.
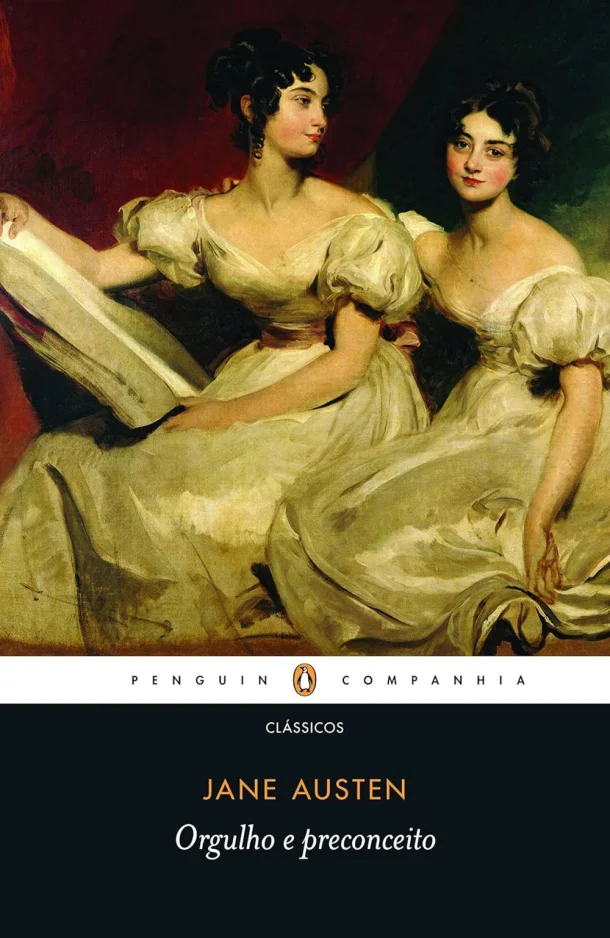
Poucos artistas no mundo encarnaram com tanta perfeição a dicotomia fundamental do amor como Jane Austen (1775-1817) ou suas personagens — o que vêm a dar no mesmo. Uma das escritoras que melhor retratou o lado obscuro da sociedade em que viveu, sobretudo para as mulheres, a inglesa só veio a ter reconhecido o talento que manifesta em livros como “Orgulho e Preconceito” muito tempo depois de sua morte, em 18 de julho de 1817, aos 42 anos, vítima do mal de Addison, uma doença autoimune a respeito da qual nada se sabia duzentos anos atrás. “Orgulho e Preconceito”, originalmente publicado em 1813, funciona como o mecanismo de escape pelo qual almas inquietas feito Austen liberam de vez seus anseios por uma sociedade de fato justa, em que todas as mulheres pudessem ter espaço para que sua porção Elizabeth Bennet medrasse. A anti-heroína de um dos romances mais simbólicos da literatura britânica do século 18 sonha, mas jamais ousa abrir mão de sua liberdade, de seu equilíbrio mental, e muito antes disso, de sua honra e de uma espécie de pacto consigo mesma.








