Certos livros não se anunciam — encostam. Vêm sem ruído, sem lombada grossa, sem promessas exageradas na contracapa. Às vezes cabem no bolso, às vezes somem entre os objetos da casa como se pedissem desculpa por existir. Mas, quando abertos, não pedem mais nada. Só invadem. Em menos de cem páginas, há quem se veja confrontado por aquilo que passou décadas tentando não encarar: o pai ausente, o amor errado, o país partido, o corpo frágil, o silêncio. Não há tempo para se proteger com ceticismo, para se enroscar na desculpa da complexidade — esses livros são rápidos como facas. E lentos como certas dores.
O curioso é que muitos deles não são lembrados por sua fama ou espessura. Porque não impressionam de imediato — não há aparato, não há barroquismo, não há alarde. Impressionam por outra coisa: um tipo de ferida que não se vê ao primeiro toque, mas que segue ardendo dias depois. São livros que se encerram antes que se possa rejeitá-los — e que ficam, talvez justamente por isso. O que deixam não é bem uma história, mas uma sensação de ter sido atravessado por algo que não se pode nomear. Algo sujo, belo, confuso, mas verdadeiro. E, estranhamente, necessário.
Não há catarse, só descompasso. A leitura termina — mas não passa. Vem com ela um incômodo doce, uma náusea miúda, uma lucidez que não se pediu. Algo que se move e se instala, sem explicação. Porque esses livros, mesmo que breves, sabem exatamente onde doer.
A leitura é curta. O estrago, não. É como uma carta que se chega tarde demais, mas que ainda assim muda o tom da manhã. Como uma frase ouvida por engano, mas que ressoa feito veredito. Esses livros não se justificam. Nem querem. Eles apenas sabem que, no tempo exato, chegarão — e não para passar.
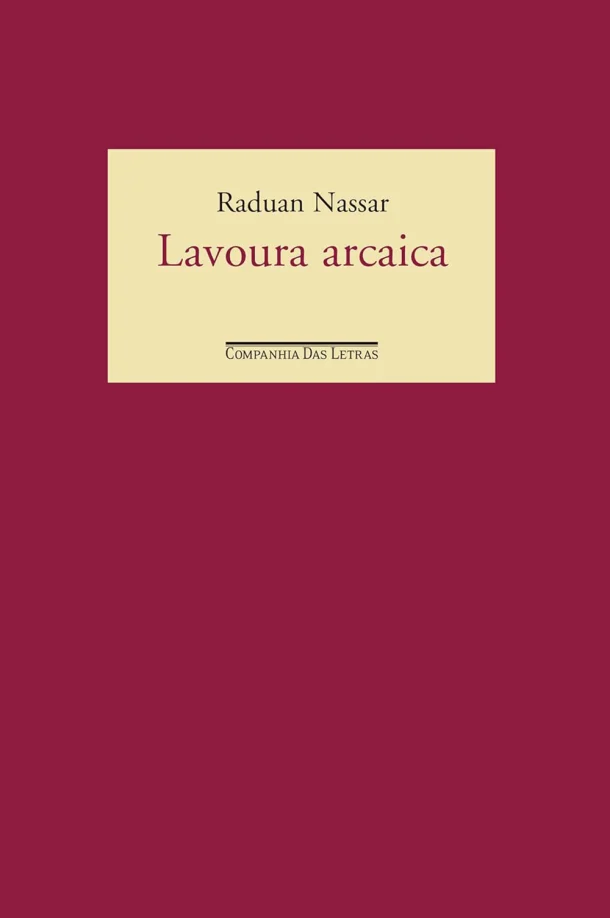
Um filho abandona a casa, a lavoura, o pai — e foge sem aviso para longe da ordem que o formou. Quando retorna, o faz não por arrependimento, mas por convocação da mãe, que o busca como quem tenta resgatar o que já se perdeu. A casa do retorno não é mais a mesma: o pai o observa como se quisesse desmontar a desobediência com o olhar, o irmão representa o zelo convertido em rancor, e a irmã — figura central de um afeto proibido — permanece no limiar entre o sagrado e o intocável. O protagonista caminha pelos cômodos como quem atravessa um templo rachado. O silêncio pesa. O ritmo da fala — entre bíblico e sensual — molda um universo onde o corpo é lugar de culpa e de revelação. Não há confissão nem redenção, apenas o embate entre a tradição e a pulsão, entre o discurso do pai e a voz do desejo que escapa, desorganiza, resiste. O tempo da narrativa é espiralado, feito de rememorações que se voltam sobre si, misturando lembrança, delírio e invocação. A linguagem não descreve: arrasta. Tudo é tensão entre o que se cala e o que se insinua. E quando a fala finalmente se desfaz em ruído, o leitor é deixado entre o êxtase e a ruína. Nada permanece intacto — nem a terra, nem o verbo, nem o sangue.
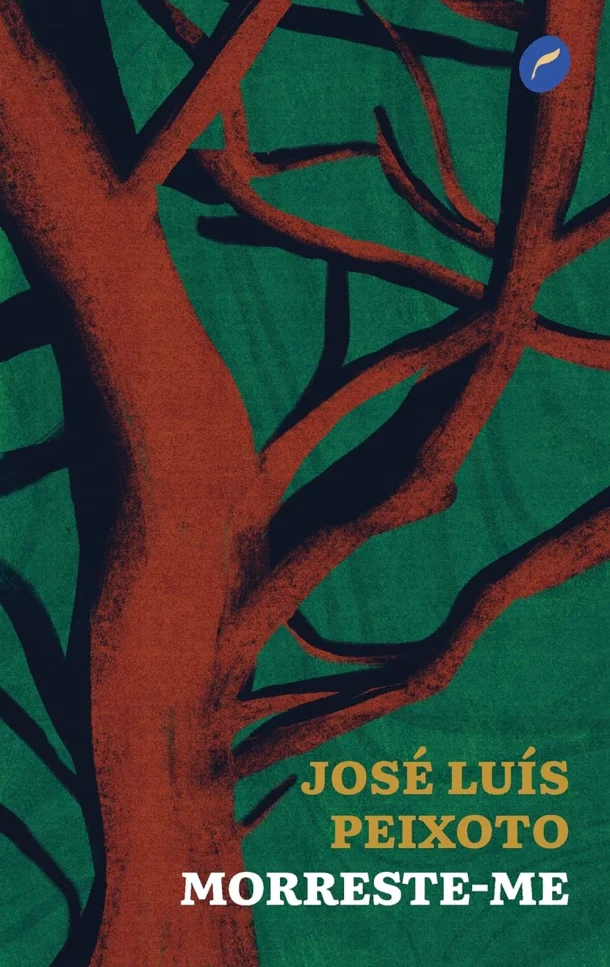
Um filho escreve ao pai morto — não para informá-lo de sua ausência, mas para tentar reter o que ainda resta: a voz, o gesto, o cheiro, o mundo que se desfez com a partida. O texto é um monólogo íntimo, um lamento que se recusa a aceitar o silêncio imposto pela morte. A linguagem, carregada de lirismo e dor, transforma a perda em poesia, a ausência em presença. Cada frase é uma tentativa de reconstruir a figura paterna, de manter viva a memória que insiste em se apagar. O narrador mergulha nas lembranças da infância, nos momentos compartilhados, nas palavras não ditas, buscando compreender a dimensão da perda e o impacto que ela provoca em sua existência. A narrativa não segue uma linearidade temporal; é fragmentada, como os pensamentos de quem sofre, oscilando entre o passado e o presente, entre o real e o imaginado. O luto é retratado não como um processo com início, meio e fim, mas como uma condição permanente, uma ferida que não cicatriza. A escrita de Peixoto é intensa e comovente, capaz de tocar profundamente o leitor, despertando emoções adormecidas e reflexões sobre a finitude da vida e a importância dos laços afetivos. Ao final, resta a certeza de que o amor transcende a morte, e que a memória é o único refúgio possível diante da inevitabilidade da perda.
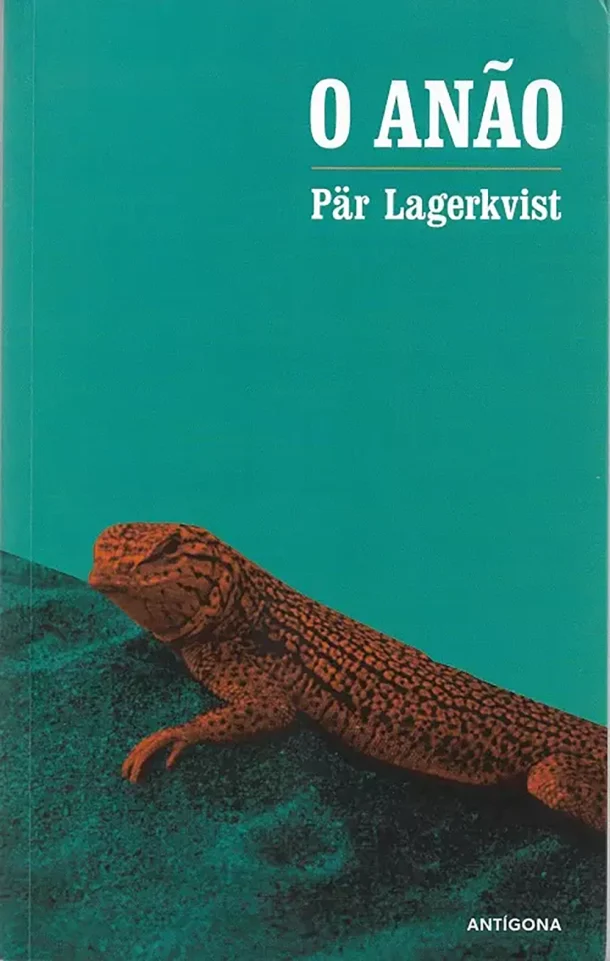
Ele é pequeno, mas não é apenas isso. É também cruel, ressentido, misantrópico. Habita os bastidores de uma corte renascentista — um lugar de intrigas, luxúria e poder — e observa tudo com olhos de desprezo e ódio. O narrador é o próprio anão, que, em forma de diário, relata os acontecimentos ao seu redor. Ele é o espelho invertido da humanidade: onde há beleza, vê decadência; onde há amor, vê fraqueza; onde há fé, vê hipocrisia. Sua devoção é à guerra, à disciplina, à ordem. Ele admira o príncipe, não por suas virtudes, mas por sua capacidade de manipular e destruir. O anão é o executor silencioso das vontades mais sombrias da corte, envenenando, conspirando, assassinando — tudo com uma frieza que assusta. Mas, ao mesmo tempo, é possível perceber que sua maldade é também um reflexo da rejeição que sofreu, da marginalização, do desprezo que sempre o acompanhou. A narrativa é seca, sem adornos, mas carregada de tensão. Cada página é um mergulho na mente de um ser que, ao negar a humanidade dos outros, revela a sua própria desumanidade. E, ao final, resta a pergunta: o anão é um monstro isolado ou apenas a face mais honesta de uma sociedade corrompida?
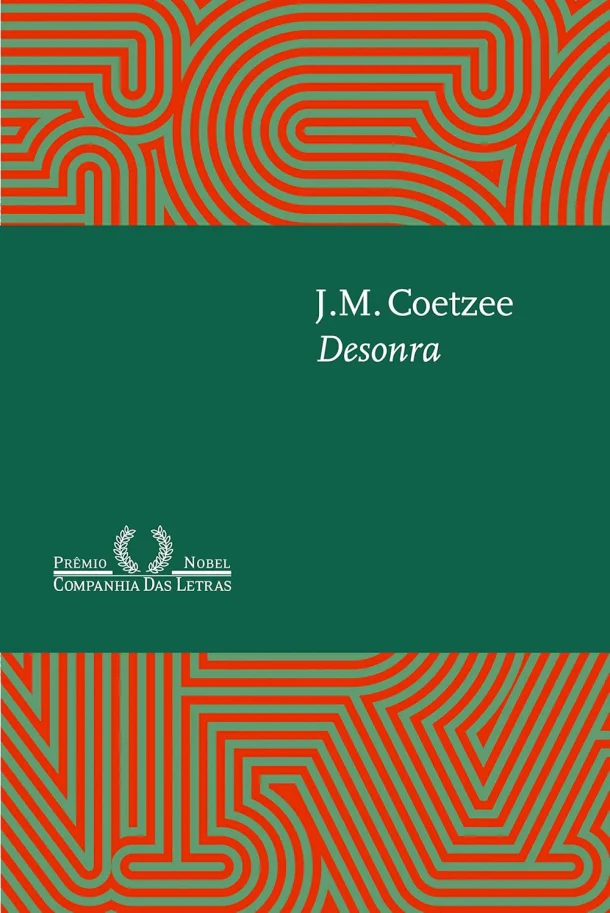
Ele já foi um homem articulado, dono de um ofício, professor de literatura. Agora, é alguém caído — não tanto pelo escândalo que provocou, mas pela falta de linguagem diante do que vem depois. Expulso do espaço intelectual que habitava, ele se exila na fazenda da filha, numa terra onde a gramática do poder já não se constrói com palavras. Lá, não há mais cátedra, nem retórica, nem cortesias. Há silêncio, terra dura, corpos feridos, pactos desconcertantes. E há ela — a filha — que resiste de um modo que ele não compreende, talvez nem aceite. A vergonha, neste lugar, não é pública: é íntima, crua, desoladora. A violência chega sem discurso, sem metáfora. O pai, que um dia ensinou Byron com entusiasmo, agora limpa feridas de cães — e não consegue nomear a própria. Nada é simples. Nem o passado recente, nem o presente que se arrasta, nem a memória de um país que tenta, sem convicção, reescrever sua história. O homem se vê diante de um mundo que não o quer mais — e talvez nunca o tenha querido de verdade. Em vez de redenção, encontra o desconforto. Em vez de redenomear o real, precisa calar. E nesse silêncio — lento, desesperador — ele aprende, enfim, o que nunca soube: escutar.
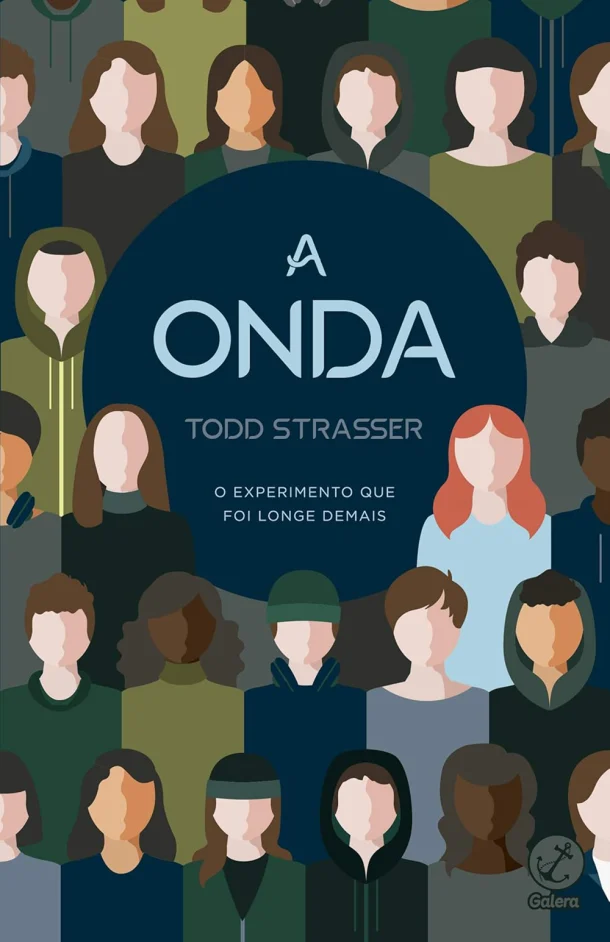
Na sala de aula, tudo começou com uma pergunta desconfortável. Como um povo inteiro se curva ao inaceitável? O professor hesitou. Explicar seria pouco. Preferiu mostrar. Um código de conduta, um símbolo, uma saudação. E, de repente, o jogo tornou-se regra. O que era experimento se fez doutrina. Os alunos, antes dispersos, começaram a marchar em sintonia — não metaforicamente. A nova ordem prometia pertencimento, disciplina, orgulho. Funcionava. As dúvidas sumiam sob a lógica da obediência. O nome dado era inofensivo, quase infantil. Mas havia algo ali que crescia para além da proposta inicial — algo que pulsava nas entrelinhas, no silêncio entre os corredores, no olhar cúmplice dos que aderiram sem perguntar por quê. A maioria se entregava com alívio. Alguns, com entusiasmo. Poucos hesitavam — e começaram a pagar por isso. Quem discordava, tornava-se ameaça. E ameaça precisa ser anulada. Não foi preciso violência. Bastou um clima. Um gesto. Um ritual. E a lição, enfim, se completou: a liberdade pode desaparecer sem tiros, sem tanques — só com aplausos e uniformes improvisados. Ao final, ninguém sabia exatamente onde aquilo começou a deixar de ser teatro. Ou se um dia deixou. O que restou não foi apenas o desconforto. Foi o espelho. E, nele, cada leitor precisa agora se olhar.







