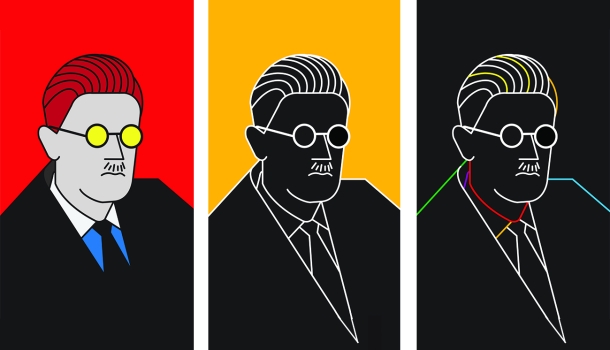Jorge Luis Borges escreveu, em “A Biblioteca de Babel”, que “nalguma estante de algum hexágono (raciocinaram os homens) deve existir um livro que seja a cifra e o compêndio perfeito de todos os demais”. Tal livro, contextualizado, é Deus ou um simulacro de Deus. Inspirado no símbolo borgiano, proponho ao leitor deste um análogo de proporções mais modestas; outro livro — literalmente falando — que ambicionou compendiar todos os demais (de valor), foi escrito em português e se encontra no Brasil, onde foi também redigido, entre 1944 e 1945. O autor que o engendrou é de algum modo fantástico, e Borges o depararia num crítico — mais coerente falar aqui em historiador da literatura — nascido no império austro-húngaro no ano de 1900, chamado Otto Maria Carpeaux: o homem que leu quase tudo. Não é tanto exagero assim, se nos valermos de uma evidência concreta, bem ao alcance das mãos: a “História da Literatura Ocidental”, sua obra mais importante.

“Livro” ou “biblioteca” é uma permuta aceitável para designar essa obra, na qual estão encerrados os mais importantes e até muitíssimos livros desimportantes de uma área inteira do conhecimento humano: a literatura. Longe de ser o único assunto que o erudito discutia com propriedade, já é o bastante para causar na gente verdadeiro espanto. A começar pelo tamanho invulgar. O percurso coberto se abisma de Homero, no século oitavo antes de Cristo, até Eugen Gomringer, poeta teuto-boliviano concretista da década de 1950. Sem nenhum favor ou chauvinismo, “História da Literatura Ocidental” é, com certeza, o mais completo painel da arte verbal de todos os tempos, em qualquer língua.
Deve existir, por certo, mas ninguém melhor do que Carpeaux nos dá a impressão cabal de abrangência em torno de um assunto. Despreza o padrão usual, que prefere o exame particularizado de casos ou, mesmo em história, julga prudente os cortes cronológicos menos extensos, sob o irreplicável argumento de que ninguém pode esgotar qualquer assunto. E mesmo quando os estudiosos tencionam cobrir uma história do início ao fim, os resultados cobrem as evoluções “nacionais”, no máximo, tornando praxe um padrão herdado da historiografia romântica. Exemplos dessa natureza são numerosos (portanto comuns) e abundam em qualquer país, podendo-se, entre nós, citar uma infinidade de congêneres da “História Concisa da Literatura Brasileira”, de Alfredo Bosi. Mas escrever uma história da literatura que comporte a evolução de quase todas as literaturas nacionais (para ser exato: estilos e obras) — de um hemisfério?

Antes de conhecer os resultados, estaríamos seguros de prever o fracasso do aventureiro, que teria pela frente uma quantidade insustentável de obstáculos. Entre eles: o acesso às fontes (onde encontrar os livros de, digamos, Anders Osterling? Pior: um acervo, combinado ou não, das literaturas holandesa, dinamarquesa ou catalã?), a variedade de línguas e, talvez, o principal e mais árduo: tempo para ler não centenas, mas milhares de livros, e lê-los com o mínimo de profundidade necessária ao exercício responsável da crítica. O gênio universal e a experiência humana de Carpeaux — quinze idiomas, a peregrinação pela Europa e o exílio final, na América do Sul — facultaram-lhe efetivar essa ambição única e desmedida. Precisou de apenas um ano de dedicação tenaz, aos 44 anos de idade, para esgotá-la no papel.
Carpeaux faz lembrar o que escreveu Harold Bloom na sua proposta de “Cânone Ocidental” — original pelo conceito de “ansiedade da influência”, não pela lista em si —, quando registra, com resignação estoica, os limites humanos de um pesquisador, a fim de justificar as dimensões de seu empreendimento pessoal: “É possível escrever um livro sobre vinte e seis escritores, mas não sobre quatrocentos”. Por se tratar de uma afirmação sensata, ninguém, sobretudo na academia — onde se ensinam as vantagens de se delimitar ao mínimo o objeto de pesquisa —, discordaria. A sentença prevalece para qualquer um até ser surpreendido por um autor tão singular quanto aquele imigrante austríaco, brasileiro por adoção, que escreveu não sobre 400 escritores, mas sobre 400 vezes 20! Para muitos, é tarefa impossível como é impossível decodificar o infinito de tantos romances, poemas, contos e peças já escritos em nossa tradição, durante 100 séculos.
Que saibamos, não há em qualquer outra língua empenho tão extraordinário. Carpeaux nota que em 1782 o jesuíta Juan Andrés publicou “a primeira tentativa de uma história da literatura universal”, a “Dell’Origine, dei Progressi e Dello Statto Attuale D’ogni Letteratura”. Registra as principais bibliografias, fichários, dicionários, florilégios e histórias que se seguiram desde o século 1, porém nenhum outro caso semelhante.

Bloom é apenas um dos muitos nomes internacionais que ignoraram a existência deste ensaísta, embora Carpeaux seja o único a reunir, segundo registro pessoal, pelo menos 8 mil “autores”, dos quais parece ter lido, em parte expressiva dos casos, o conjunto da obra. Pelos resultados alcançados, podemos afirmar que é um dos intelectuais mais significativos do século 20, do porte e eminência de um Erich Auerbach ou de um Arnold Hauser — se bem o século 20 não seja consciente disso e tal importância não tenha, de fato, se confirmado — sequer na Áustria, onde nasceu. Faltou-lhe um auditório externo, atravancado, parece, pela marginalidade da língua portuguesa. É muito triste. Sobremaneira quando se admite que as qualidades científicas da Otto Maria Carpeaux são evidentes, e não menos acapachantes as do escritor como tal, autor de uma prosa admirável e estilista de recursos.
Exageros costumam depor contra a credibilidade de um julgamento, traindo parcialidade. Portanto, é verdade que, daqueles oito mil autores pesquisados pelo historiador brasileiro, a maioria é apenas citada ou reduzida a frases pouco elucidativas, como: “Há poucas exceções, entre as quais não se encontram os irmãos Rosny desviados do naturalismo para uma atividade poligráfica, fecunda mas de resultados efêmeros. Zolaísta autêntico é Descaves…”. Resumos como esse levam a considerar a possibilidade daquele homem ter tido também, apesar de tanta devoção, uma vida ordinária como a nossa, recheada de intervalos mundanos entre um livro e outro. Ainda assim, só a disciplina permite a um intelectual construir um tão vasto edifício. Pelo menos os nomes mais representativos da literatura ocidental foram analisados a contento, em proporções de artigo e, em alguns casos, até de ensaio. Carpeaux é um autêntico gênio pletórico, o maior que conhecemos entre os críticos e historiadores da literatura de qualquer meridiano, e desafia o pragmatismo daquele discípulo de Pater, para o qual “os setenta anos bíblicos já não bastam para ler mais que uma seleção dos grandes escritores do que se pode chamar de tradição ocidental, quanto mais de todas as tradições do mundo. Quem lê tem de escolher, pois não há, literalmente, tempo suficiente para ler tudo, mesmo que não se faça mais nada além disso”.
O fôlego de Carpeaux exauriu aos 78 anos de idade, numa clínica do Rio de Janeiro, em 1979. Metafóricos ou não, os setenta anos bíblicos coincidentemente lhe bastaram para conhecer e nos transmitir ao menos uma daquelas tradições, praticamente completa, embora em forma de síntese — e toda síntese padece os limites de suas ambições. Por outras palavras — e aí realmente a possível fraqueza desta obra singular — Otto Maria Carpeaux é, em larga medida, uma coletânea de fragmentos, por vezes tão pequenos que se reduzem à monótona relação de centenas de nomes desconhecidos. Podemos tratá-los como arestas, imperfeições aparentes num monumento. Há quem não veja propósito nenhum em tantas “concessões” tendentes à diluição e ao pedantismo. Ou talvez haja também uma justificativa razoável, relacionada à perspectiva privilegiada pelo autor: à crítica não interessam senão os valores indiscutidos, ao passo que a história — disciplina totalizante como certa vez ambicionou a escola francesa dos Annales — comporta tudo. Até toda literatura e os autores que só têm valor histórico.
Com a última sentença abrem-se os amplos horizontes de Carpeaux. Sua originalidade não se reduz às proporções materiais de seu livro capital — diz respeito, também, ao conteúdo, à diversidade de literaturas abrangidas. Inclui não apenas o óbvio, que é a literatura feita na Europa — entenda-se: o pequeno miolo compreendido entre Espanha e Alemanha, de um lado, e Itália e Inglaterra, de outro —, e nos Estados Unidos. Há — ou pelo menos havia — outras províncias literárias desconhecidas do Ocidente, entre elas a América Latina (salvo nomes de exceção do quilate de Borges, Octavio Paz e Alejo Carpentier) e países eslavos e nórdicos (de onde só tínhamos conhecimento de certas obviedades, como o tcheco Franz Kafka e o norueguês Henrik Ibsen), que foram incorporados pela voracidade do espírito, que ignora o fator geográfico e nossas melancólicas diferenças políticas. O conceito carpeauxiano de “ocidente” é inclusivo, e urge esclarecê-lo.
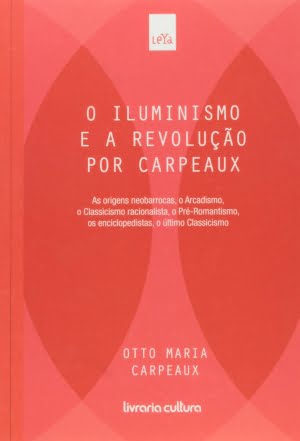
Não se compreende Carpeaux se não se reconhece nele o que é e o que defende: é uma humanista e vindica, em primeira linha, o humanismo, base essencial de sua weltanschauung. O espírito de qualquer obra de caráter científico, como a sua, encontra-se resumido, invariavelmente, na parte introdutória. A “Introdução”, porém, não é o único trecho, no caso da Otto Maria Carpeaux, que responde a esse espírito fundamental, que justifica e orienta qualquer trabalho de natureza gnosiológica equivalente.
Na obra definitiva, o Capítulo III da Parte I — A Herança — chama-se “O Cristianismo e o Mundo”, escrutínio dos padres da Igreja e sua notável contribuição literária. O texto original era outro, “História do Humanismo e das Renascenças”, incluído na primeira edição (“O Cruzeiro”, 1959). A mudança, segundo Carpeaux, se deve ao fato de que lá a “sistemática” da obra foi preservada, enquanto aqui trata-se de “comentários gerais”. Tem razão. Ainda assim, esses comentários são preciosos por constituir um libelo dialético contra a negação futurista do humanismo, abrindo-se com o solilóquio de Hamlet sobre o desaparecimento de um símbolo: “Que lhe interessa Hécuba?” (Cena II, Ato II), para intuir que “a pergunta de Hamlet indica, com maior precisão, a atitude do homem moderno em face da antiguidade”.
O interesse pela antiguidade não é próprio dos historiadores, apenas. É, também, típica dos humanistas, desde os primeiros — que ostentavam o orgulho intelectual e a crítica severa à corrupção católica, ansiando pela Terceira Igreja de joaquimistas e franciscanos —, até os últimos, que ainda vagam por aí. Oxalá seja uma raça invencível, com tendência infelizmente a se constituir em seita exótica, em torno de uma missão cada vez mais difícil: a preservação da memória em forma de livros. Foram os humanistas, de qualquer modo, que reestabeleceram os laços do presente com o passado, cultuando a literatura greco-romana e oxigenando, dessa forma, todas as literaturas modernas, até o presente. Ao retomar este princípio, Carpeaux adverte a nós outros “a continuidade da história, a igualdade essencial dos homens de todos os tempos”, vínculo que não pode ser rompido sem uma traumática perda de sensibilidade poética, qualidade estética e sabedoria.
A pergunta essencial do humanista é: “Quando começa?” O historiador, no papel de revisionista, não pretende dar uma resposta convencional como tantas outras e postula uma origem no século 6, tributária direta da cultura greco-romana. Aí localiza-se o momento decisivo, quando o Ocidente emerge como um acontecimento distinto na história humana: não por acaso é o século dos primeiros guardiões dedicados a velar pelas obras literárias do passado. São eles — homens da Igreja como Gelásio I e Agostinho, Ambrósio e Próspero da Aquitânia — os responsáveis pela fusão da filosofia antiga com a teologia cristã, aos quais se soma Justiniano e o Corpus Juris, concluindo o fundamento institucional da nova era. Em resumo, “essas codificações marcam uma data e, ao mesmo tempo, uma delimitação. Religião judaico-cristã, ciência grega, direito romano: eis a herança da Antiguidade, lançando os fundamentos da civilização ocidental”.

Quem poderá negar, dois mil anos depois, essas raízes e sua influência avassaladora sobre tudo o que somos e construímos, até hoje? Esse passado nos conformou e é impossível olhar para frente sem reconhecer que somos a sua cara, muito mais do que um claudicante projeto de futuro. A negação desses padrões é uma negação do próprio homem. Na medida em que se descobre um vínculo umbilical, uma unidade milenar, já não é tão grande a distância que separa o mundo contemporâneo da primeira Idade Média, que se estende, segundo o historiador, Hilário Franco Junior, de “princípios do século 4 a meados do século 8”. Já para delimitar espacialmente o conceito de Ocidente, Carpeaux exclui as influências exóticas que não frutificaram, embora comunicadas à Europa pelas grandes civilizações orientais: a indiana, a chinesa e mesmo a muçulmana. Sob este aspecto, a “História do Humanismo e das Renascenças” é um capítulo muito interessante em função do debate historiográfico que propõe, realçando as notáveis qualidades de Carpeaux enquanto intérprete da história.
Dois conceitos sobressaem em sua análise: os de Idade Média e o de Renascença, o primeiro em função de seus significados, o segundo por causa de seus marcos cronológicos, francamente diluídos. O período de mil anos compreendido mais ou menos entre a queda do império romano e as grandes navegações não é simples nem homogêneo a ponto de traduzir-se pelo estigma das trevas (a “Dark Age”, de William Robertson). Em verdade, o cadinho de fermentação que propicia o nascimento da ideia de “Ocidente”, fundindo num mesmo elemento as culturas pagã e cristã, entra em atividade no mesmo século em que Odoacro alcança os portões de Roma e decreta, simbolicamente, o fim da primeira era. De forma que é um didatismo grosseiro creditar ao século 15 a descoberta e revalorização do mundo clássico. Se é verdade que a Renascença coincide com os estertores da Idade Média, também é verdade que há inúmeros momentos como esse, dentro e fora dela. Define-os, senão o mesmo esplendor, ao menos a simbiose e reação com o elemento precedente. “Em última análise, o traço característico da civilização ocidental não é a herança antiga, mas a modificação dela, que se chama renascença.”

E há uma sequência ininterrupta delas, podendo-se partir da corte de Augusto, no começo do século 1, até o transe dionisíaco de Nietzsche, em pleno século 19. A partir deste plano, intercalado aos refluxos sociais e aparentemente providencial, é possível, até, que Carpeaux esperasse por um novo renascimento, quando o seu século emergisse da destruição e das cinzas da Segunda Guerra Mundial para uma nova época de esplendor cultural. Seu sistema interpretativo permite intuir que sim, mas não sabemos.
Como foi lembrado, o capítulo “História do Humanismo e das Renascenças”, excluído da segunda edição da “História da Literatura Ocidental”, foi substituído por outro, “O Cristianismo e o Mundo”, já este menos especulativo e submisso ao critério dos demais; no dizer do autor, dentro da “sistemática” do conjunto. Apresenta os escritores marcantes do século 5, d.C., quando se criou “uma das maiores obras, das mais permanentes da literatura universal de todos os tempos: a liturgia romana”. São grandes teólogos de poesia revelada, como Tertuliano, Ambrósio e Jerônimo.
Carpeaux não escreve monografias, incompatíveis com o escopo de uma síntese, mesmo que, no caso, elas permitissem um exame mais circunstanciado da produção em evidência. Mas a forma de exposição não é decisiva e sim a descoberta: é ela que torna este capítulo a contribuição crítica mais fecunda e original do livro de Carpeaux. A opinião se sustenta numa passagem de Franklin de Oliveira: “Em face do hinário e da liturgia romana, a posição de Otto Maria Carpeaux é idêntica, metodologicamente falando, à que assumira em face do direito romano. Se a importância do direito romano já foi focalizada por diversos ‘romanistas’, no caso da liturgia romana a glória da descoberta lhe pertence por inteiro”.
Um achado tal já não interessa apenas a nós outros; aliás, diz menos respeito à nossa do que à cultura europeia. Por aí se nota que o alcance universal da “História da Literatura Ocidental” não é falso proselitismo. Se se pretende deduzir a originalidade do autor, ela há de ser encontrada aqui, tanto quando, em meu entender, na particularíssima extensão conferida ao conceito de Ocidente — que não se conclui com o que foi exposto, até o momento: digamos, um conceito dinâmico, “histórico”. Completa-o o conceito estrutural ou “geográfico”, que resumiremos a seguir. Não menos digno de nota é o fato de que análise estilística, combinada à análise ideológica, em crítica literária, foi adotada por diversos especialistas antes de Carpeaux, como Karl Vossler, Leo Spitzer e Dámaso Alonso. Porém, “só a historiografia ainda não entrou nessa combinação feliz”, avisa o ensaísta em flagrante autoelogio, quando já introduzia sua obra, inteiramente arquitetada sob aquele instrumental teórico-metodológico. É um divisor de águas mais ambicioso que Valbuena Prat, que escreveu uma história da literatura espanhola ensaiando a adoção de semelhante método.
Prefiro tratar este homem — que foi também crítico, jornalista e polígrafo — como historiador, por razões que me parecem óbvias. Por hora, basta reafirmar o que o autor registrou, com discernimento: a “História da Literatura Ocidental” é a “apresentação da história literária como interpretação histórica”. Ele não se interessa pela origem individual das obras (objeto da crítica literária). Interessa-lhe traçar, por meio da combinação daquelas análises, a relação histórica entre elas, em função de um “espírito objetivo” de natureza supraindividual (objeto possível da história). Como tal, a “História da Literatura Ocidental” é uma obra de síntese coletiva, de corte transversal e de revisão, “substituindo, em todos os pontos particulares, as ‘fables convenues’ da rotina pelos resultados da análise estilística e da análise sociológica”. Para tanto substitui o naturalismo de Saint-Beuve (crítica biográfica) pela psicologia compreensiva de Wilhelm Dilthey, de forma que a documentação histórica e não os indivíduos constrói tipos ideais que representam a “estrutura psicológica total de determinada época”: “Desta maneira construíram-se panoramas históricos de perspectiva e profundidade inéditas, ‘verdadeiros cortes transversais’ através das épocas”.

Levadas ao extremo, as consequências dessa perspectiva foram realmente inéditas. A transversalidade ampliou, e muito, o conceito de Ocidente, significando a sincronia do mesmo conteúdo mental nas mais variadas culturas do hemisfério. E aí é preciso completar o que foi escrito até aqui, dizendo o que o Ocidente comporta, em termos literários. Um dos traços inconfundíveis da “História da Literatura Ocidental” é, me parece, a ampliação das fronteiras literárias do mundo e seu reconhecimento crítico definitivo. Em “O Cânone Ocidental” Harold Bloom falou em balcanização, termo que designa o estado do ensino das letras há quase 20 anos, de “fragmentação” do gosto a ponto de assimilar a pseudoliteratura, apenas para satisfazer gêneros e minorias, independentemente das qualidades estéticas. É preciso evitar confusões. Aqui, está claro, não se trata de balcanização. O reconhecimento da alta literatura de um Juan Carlos Onetti não é nunca um favor, uma concessão fora dos critérios usuais da crítica mais exigente. E é disso que se trata: de reconhecer na tradição ocidental outras tantas literaturas, ao lado das mais divulgadas e comentadas, que são a inglesa, a francesa, a russa, a espanhola, a norte-americana e a italiana.
Mais de 60 anos depois de seu lançamento editorial, seria impensável excluir da “História da Literatura Ocidental” a literatura africana, chancelada por nomes de alta qualidade como Nadine Gordimer, J.M. Coetzee, Wole Soyinka, Naguib Mahfouz, Mia Couto, Pepetela e tantos outros. E, mesmo assim, é considerável o que Carpeaux conseguiu abarcar, a partir do método apropriado, que lhe garantiu a coerência interna da síntese pretendida. As características deste método pessoal são três: primeiro, a abolição das fronteiras nacionais (para dar conta da multiplicidade do assunto e ao mesmo tempo das literaturas “europeia” e “americana”). Segundo, a substituição de “nações e autores” por “estilos e obras”, dentro dos períodos consagrados pela tradição; terceiro, a discussão sobre o intercâmbio entre literatura e sociedade (a interdependência dos fatores espirituais com os materiais, onde antevê o calcanhar de Aquiles da “História da Literatura Ocidental” e antecipa-se às censuras futuras por causa de um ecletismo “incapaz de decidir-se”, mas que deve aos limites do relativismo historicista). O aspecto que por hora me interessa é o primeiro, uma vez que que a literatura universal “não pode limitar-se às chamadas ‘grandes’ literaturas: grega, romana, italiana, espanhola, francesa, inglesa, alemã, russa. Entende-se, sem discussão, a inclusão das literaturas escandinavas (…); depois, de mais três literaturas, tão tradicionais como aquelas: a portuguesa, a holandesa e a polonesa; depois, das literaturas provençal e catalã (…); depois, dos ramos americanos de algumas literaturas europeias: a norte-americana e a brasileira. Quem não ignora o assunto não discutirá a necessidade de estudar também as literaturas tcheca e húngara”.
Por um erro de avaliação, estamos acostumados a perceber a Europa e os Estados Unidos como unidades autônomas de criação espiritual, de onde importamos sistemas filosóficos e conceitos científicos acabados, de aplicação sempre duvidosa porque artificial. Tornamo-nos, em comparação, reflexos pálidos e sem interesse, incapazes de gerar valores substanciais, julgamento que se estende aos nossos padrões estéticos. Em filosofia tornamo-nos comentaristas. Falta-nos descobrir nossa essência e com ela moldar uma compreensão do mundo que seja a tradução de nosso ethos, como foi o Pragmatismo, de William James, para o espírito norte-americano. George Steiner, em “Tolstói ou Dostoiévski”, soube compreender o que torna as literaturas russa e estadunidense tão autênticas e até mais fortes, segundo ele, do que a europeia, num nível que provavelmente ainda não alcançamos, e seus argumentos são plenamente aceitáveis. Fundamentalmente, o que caracteriza Balzac e Flaubert, Dickens e Zola é o realismo como retrato secularista e desumano dos indivíduos, em um mundo deslumbrado com a técnica. O oposto é o gnosticismo de Tolstói e Dostoiévski, Melville e Hawthorne, cheio de vitalidade e ávido pelo sagrado.

Fora disso, não cabe mais censurar as fontes estrangeiras como fermento legítimo, à disposição de qualquer espírito criativo em qualquer lugar, sobretudo em sociedades multiculturais como as de hoje. A “História da Literatura Ocidental” não oferece nada de novo a respeito do assunto “influência”, mas permite compreender, com clareza absoluta e abundância de exemplos, como ela é intensa entre os chamados “povos civilizados”, desde sempre.
Exemplo disso foi a assídua imitação que os românticos espanhóis fizeram do teatro de Alexandre Dumas (pai) e Victor Hugo, “tomando-lhe emprestados os conflitos espetaculares, a eloquência torrencial, os efeitos melodramáticos e, embora nem sempre, a tendência liberal”. O teatro de Zorrilla teria mesmo “nacionalizado” tais influências. Na Alemanha, os irmãos Schlegel cumpriram o papel de verdadeiros “importadores culturais”, dispondo para o seu país, em traduções, obras de Camões, Shakespeare, Petrarca, Lope de Vega e tantos outros poetas de outras terras. August Schlegel, inversamente, influencia grandes franceses como Hugo e Stendhal, em reação ao classicismo, tanto quanto Manzoni, na Itália. As traduções que os irmãos levaram a cabo culminam na criação de uma Weltliteratur (literatura universal em língua alemã): “A leitura das grandes obras de poesia medieval, renascentista e barroca tinha o valor de um narcótico produzindo sonhos pitorescos”, numa referência ao evasionismo motivado pelas guerras napoleônicas para “outros mundos, remotos e longínquos”.
Influência é o tipo de coisa diante da qual não é possível se isolar, venha de onde vier: todas as literaturas ocidentais, rigorosamente falando, resultaram de permutas espirituais com o universo exterior, transformando a herança em manifestações de cor local. A criação do Ocidente é um comércio perpétuo entre sociedades tão diferentes como a portuguesa e a alemã, a alemã e a italiana, a italiana e a inglesa, a inglesa e a francesa — e custaria apenas o impulso das grandes navegações, a partir do século 14, para que, também, se tornasse uma troca fecunda entre europeus e americanos. A chave do problema encontra-se na seguinte constatação: “O fato de, durante treze séculos, o critério da nossa civilização não ser imanente, mas encontrar-se fora, numa outra civilização, alheia e já passada, é a marca mais característica da civilização ocidental”.
A marca das américas é também a marca da velha e orgulhosa Europa, que um dia pretendeu guiar o mundo. Relativiza-se, deste modo, a importância das polêmicas, sempre existentes, sobre o que é transplantado e o que é autêntico. Polêmicas assim são muito comuns quando se discute a natureza do Modernismo de 22, no Brasil, explicando reações impossíveis como o movimento Armorial, de Ariano Suassuna, pretensamente mais puro e mais brasileiro. O segredo a intuir é que se a civilização europeia não é imanente “no tempo”, a das américas não é fundamentalmente imanente “no espaço”, diferença crucial entre uma e outra. Mas o critério da civilização americana é muito parecido com o do velho mundo, uma vez que consiste em buscar “de fora” — seja na África ou no Velho Mundo — os elementos fundamentais de sua constituição espiritual. Na transição entre a Antiguidade e a Idade Moderna europeia, esse “de fora” é o mesmo que “passado”, ao passo que na transição entre Europa e as Américas significa exatamente o “distante”. Aqui o externo é uma relação “sincrônica” entre dois mundos, lá uma relação “diacrônica” entre dois momentos.
As bases antigas do pensamento europeu disseminaram-se de regiões muito específicas como Grécia, Palestina e Roma para países inteiros, primeiro latinos e depois germânicos, e daí conformaram todo o continente, que tampouco foi uma ilha isolada, em qualquer momento de sua história. É inegável que a unidade geográfica estimula uma percepção estática e unitária (porém enganosa) dos povos europeus. A partir do século 15 eles encarregam-se de exportar suas estruturas conceituais, inclusive estéticas, para os lugares mais remotos que encontraram, fora do seu território. O hemisfério se alargara nesse movimento, até incluir as américas, e não faria mais sentido permanecer ignorando metade dele. Mas foi preciso a inteligência de Carpeaux para se admitir o óbvio: a continuidade essencial entre esses dois mundos, estabelecendo entre eles uma “encheiresis”, isto é, a ligação espiritual que os une. Com ele o Ocidente adquire feições inéditas, numa mudança contínua da própria imagem.
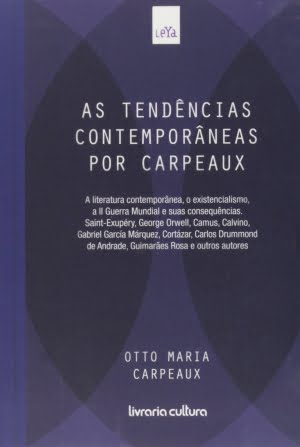
Carpeaux é nosso Marcus Fabius Quintilianus (sec. I da Era Cristã), seu mais antigo precursor. Coube àquele antigo professor romano a tarefa pessoal de organizar, para o ensino do aluno de retórica, a primeira “relação de livros-modelos” que se tem notícia na história das letras, instituindo um “código de valores”, expressão associada à tradição e hoje tão nostálgica, maculada por nosso desdém futurista. A motivação pioneira do professor romano foi muito particular e é digna de nota: a decadência estilística e moral dos contemporâneos, na transição entre Nero e Vespasiano. As indicações quintilianas, com o objetivo pragmático de “salvar da destruição pelos bárbaros os tesouros literários do passado”, consolidaram um padrão cultural seguido por monges, humanistas e modernos, sempre que a sociedade entrou em épocas de crise. Para sempre, desde a Idade Antiga, o termo “barbaridade” está no subconsciente da humanidade associado à violência, e neste século a violência está, segundo Carpeaux, associada ao proletariado intelectual constituído pela classe média de técnicos pequeno-burgueses, “expressão triunfal do fascismo” e inimiga mortal da inteligência (ler o ensaio “A ideia da universidade e as ideias das classes médias”). A “História da Literatura Ocidental” é, nesse sentido, uma resposta da inteligência aos bárbaros.
Afinal, uma daquelas épocas, a mais estúpida e sanguinária de todas, foi a primeira metade do século 20, com a ascensão de Leviatã e dos regimes totalitários de esquerda e de direita, que quiseram sombriamente abarcar o mundo. Mas o espírito se opôs, e o mesmo espírito que nutriu Quintilianus permanece vivo na odisseia de Carpeaux. A “História da Literatura Ocidental” cumpre, para nós outros, a função vital e permanente daquela velha “Institutio Oratoria” do sábio romano. Ignorá-lo implica em diminuir nossas reservas de luz, emitidas por um dos grandes humanistas do século 20.